Das coisas mais bacanas de se morar em Porto Alegre é poder acompanhar bandas massa de gente muito bacana, como a fora de série Damn Laser Vampires. Genial! Conheço a Chica e o Ronaldo há mais de 15 anos. São criativos, competentes, técnicos, expressivos e muito, mas muito, queridos, desde sempre.
Autênticos. Cultivam uma relação com a vida como a de verdadeiros artistas: os que sabem que a arte é o sentido da vida e que viver só tem por quê com essa boa dose de ficção que precisamos injetar nela, constantemente. É o que eles fazem.
A Chica assinou com o nome de Francisca Braga o desenho da minha personagem A Vaca Azul é Ninja em 1994. Meu primeiro livro. Pariu, comigo, parte de minha mitologia pessoal, pela qual serei sempre garto. Tatuei-a no ombro, há alguns anos. Ela é azul e linda. E meu texto não tem sentido algum sem ela. Desde que vi a vaca, pela primeira vez, no desenho que a Chica foi levar, a Canoas.
O Ronaldo é um geniozinho. Se não fossem as músicas da DLV, bastaria que se lesse um artigo incontornável para sacar as profundas relações entre a literatura e o mundo dos quadrinhos: A Queda do Muro de Gothan, publicado na Vox 21, na época do governo Olívio. Quando o Paulo Bentancur, editor da Vox, recebeu o artigo, imediatamente ligou para os amigos: é o melhor texto já publicado na revista. Recebemos, eu e a Cecília, o seguinte e-mail da Chica:
"Oi Jéferson,
Ficamos muito contentes em ver vocês no show. Apesar de todos os perrengues técnicos, foi divertido, e o público é sempre bastante animado. Claro que a gente gostaria de tocar com um equipamento melhor, num volume mais audível - principalmente as guitarras, que ficaram soterradas, e tal. E ontem aconteceu de quase tudo: corda rebentou, pedal falhou, cegueira por flashes direto no olho, só não caíram em cima da gente (quando não tem palco isso acontece, às vezes).
O próximo show será no Complexo Master, um centro cultural que abriu na cidade baixa, com a galeria de arte Fita Tape, estúdio de gravação, e bar. Tocaremos no estúdio, e o show será transmitido pra outras áreas da casa em telas grandes de plasma.
E vocês estão convidados, é claro!
Valeu mais uma vez,
Abração,
Chica
Abaixo o serviço:
24 de setembro, quinta-feira, no Complexo Master ^!!!^
Lançamento da Void de Setembro na Galeria Fita Tape
toca no Complexo Master
(Venâncio Aires, 46 - em frente à Praça Garibaldi, Porto Alegre)
A partir das 19h, entrada franca
domingo, 30 de agosto de 2009
domingo, 23 de agosto de 2009
Prefeitos assinam Mais Cultura em Canoas

Mais de 50 municípios gaúchos confirmaram que estarão em Canoas nesta segunda-feira, 24, para assinarem, com o ministro Juca Ferreira, o termo de adesão ao Mais Cultura, Programa que integra a Agenda Social do Governo Federal e marca o reconhecimento da cultura como necessidade básica e importante vetor para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. O Mais Cultura tem como principal objetivo promover o acesso da população, especialmente jovens da classe C, D e E, aos bens e serviços culturais. Tive o privilégio de, enquanro assessor do ministro Juca Ferreira )na época secretário executivo de Gil) e depois como coordenador-geral de livro e leitura, de ajudar a formular o programa no que diz respeito a bibliotecas e pontos de leitura.
Dois editais do MinC lançados Canoas
Pois é. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, lança nesta segunda-feira, 24, aqui em Canoas, dois editais nacionais para seleção de 150 Cines Mais Cultura e modernização de 100 bibliotecas públicas municipais. Ambos são direcionados a municípios de até 20 mil habitantes. O evento acontecerá às 15h, no ginásio municipal do CAIC, no bairro Guajuviras, em Canoas. Participam do evento a secretária de Articulação Institucional do Ministério da Cultura (SAI/MinC) e coordenadora executiva do Programa Mais Cultura, Silvana Meireles, o diretor geral de Livro, Leitura e Literatura do MinC, Fabiano dos Santos Piuba, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge e eu, o secretário de Cultura de Canoas.
Modernização de bibliotecas – Ação de estímulo à leitura, as bibliotecas modernizadas recebem kit com mil livros, mobiliários, almofadas, pufes, tapetes e telecentro digital com 11 computadores conectados à internet em alta velocidade (banda larga). O objetivo do Programa Mais Cultura é zerar o número de municípios sem esse equipamento em todo o Brasil. Em 2008, o Mais Cultura investiu R$ 24,3 milhões para a modernização de bibliotecas públicas em 444 municípios brasileiros. Os municípios interessados em participar do edital deverão encaminhar propostas de 25 de agosto a 24 de outubro, para Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas / Fundação Biblioteca Nacional (Rua da Imprensa, 16 – Sala 1102 – Palácio Gustavo Capanema – Centro. CEP 22030-120 – Rio de Janeiro/RJ).
Cine Mais Cultura – Tem o objetivo de promover o acesso da população a obras audiovisuais e apoiar a difusão da produção audiovisual brasileira por meio da exibição não comercial de filmes. Esse é o segundo edital nacional lançado este ano para seleção de Cines Mais Cultura. O primeiro teve 602 propostas inscritas, de todos os estados brasileiros, e 100 projetos selecionados e divulgados em maio deste ano. A Região Nordeste teve o maior número de premiados, com 46% do total, seguida pela Região Sudeste com 36%, Sul com 11%, Norte com 5% e Centro-Oeste com 2%.
A inscrição ao edital é gratuita e poderá ser efetuada de 24 de agosto a 24 de outubro. As propostas deverão ser encaminhadas ao Centro Técnico do Audiovisual (Avenida Brasil, 2482 – Benfica – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20930-040). O edital e anexos estarão disponíveis nos sites do Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br) e do Programa Mais Cultura (mais.cultura.gov.br).
Além de equipamentos e capacitação, os Cines recebem filmes e vídeos do catálogo da Programadora Brasil, que reúne hoje um acervo de 330 obras nacionais, organizados em 103 programas (DVDs). São filmes históricos e contemporâneos, curtas, médias e longas-metragens, de todos os gêneros.
Modernização de bibliotecas – Ação de estímulo à leitura, as bibliotecas modernizadas recebem kit com mil livros, mobiliários, almofadas, pufes, tapetes e telecentro digital com 11 computadores conectados à internet em alta velocidade (banda larga). O objetivo do Programa Mais Cultura é zerar o número de municípios sem esse equipamento em todo o Brasil. Em 2008, o Mais Cultura investiu R$ 24,3 milhões para a modernização de bibliotecas públicas em 444 municípios brasileiros. Os municípios interessados em participar do edital deverão encaminhar propostas de 25 de agosto a 24 de outubro, para Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas / Fundação Biblioteca Nacional (Rua da Imprensa, 16 – Sala 1102 – Palácio Gustavo Capanema – Centro. CEP 22030-120 – Rio de Janeiro/RJ).
Cine Mais Cultura – Tem o objetivo de promover o acesso da população a obras audiovisuais e apoiar a difusão da produção audiovisual brasileira por meio da exibição não comercial de filmes. Esse é o segundo edital nacional lançado este ano para seleção de Cines Mais Cultura. O primeiro teve 602 propostas inscritas, de todos os estados brasileiros, e 100 projetos selecionados e divulgados em maio deste ano. A Região Nordeste teve o maior número de premiados, com 46% do total, seguida pela Região Sudeste com 36%, Sul com 11%, Norte com 5% e Centro-Oeste com 2%.
A inscrição ao edital é gratuita e poderá ser efetuada de 24 de agosto a 24 de outubro. As propostas deverão ser encaminhadas ao Centro Técnico do Audiovisual (Avenida Brasil, 2482 – Benfica – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20930-040). O edital e anexos estarão disponíveis nos sites do Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br) e do Programa Mais Cultura (mais.cultura.gov.br).
Além de equipamentos e capacitação, os Cines recebem filmes e vídeos do catálogo da Programadora Brasil, que reúne hoje um acervo de 330 obras nacionais, organizados em 103 programas (DVDs). São filmes históricos e contemporâneos, curtas, médias e longas-metragens, de todos os gêneros.
quarta-feira, 19 de agosto de 2009
Biblioteca João Palma da Silva
A Biblioteca Pública Municipal João Palma da Silva, em Canoas, tem uma importância fundamental em minha vida. Há quase três décadas, que sucessivas carteirinhas verdes (com uma foto minha cada vez mais velho) vêm recebendo carimbos atrás de carimbos, além daquelas letrinhas miudinhas das atendentes com a data para entrega. Para mim, elas são como pequenos recibos de valor das leituras que me acompanham em casa, na rua, nos ônibus, nas praças, nas filas, em tantas idas e tantas vindas.
Os livros da BPMJPS sempre me acompanharam. E seguem me acompanhando. Ao voltar para Canoas, de novo me associei, voltando assim a circular por suas estantes repletas de mais de 40 mil livros. Muitas vezes me deparo com diversos títulos daqueles que, há décadas, retirei de seu lugar para levar pra casa, no tempo em que revirava de ponta a ponta seu acervo de empréstimo em busca de novidades de olhares para um mundo sempre um ponto de interrogação ao meu redor.
Das lembranças que guardo em relação ao seu acervo, uma tem lugar especial: ainda com meus 17 anos, li 16 livros do Moacyr Scliar, um atrás do outro. Um atrás do outro, mesmo! A grande maioria retirada do acervo da biblioteca. Jamais imaginei que o Scliar, escritor famoso àquela época, hoje membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), viesse um dia a ser colega de Conselho Diretivo do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Naquela época, seria impossível imaginar que estaríamos, nós dois, um dia, reinaugurando-a, como que fizemos há cerca de dois meses.
Os livros da BPMJPS sempre me acompanharam. E seguem me acompanhando. Ao voltar para Canoas, de novo me associei, voltando assim a circular por suas estantes repletas de mais de 40 mil livros. Muitas vezes me deparo com diversos títulos daqueles que, há décadas, retirei de seu lugar para levar pra casa, no tempo em que revirava de ponta a ponta seu acervo de empréstimo em busca de novidades de olhares para um mundo sempre um ponto de interrogação ao meu redor.
Das lembranças que guardo em relação ao seu acervo, uma tem lugar especial: ainda com meus 17 anos, li 16 livros do Moacyr Scliar, um atrás do outro. Um atrás do outro, mesmo! A grande maioria retirada do acervo da biblioteca. Jamais imaginei que o Scliar, escritor famoso àquela época, hoje membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), viesse um dia a ser colega de Conselho Diretivo do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Naquela época, seria impossível imaginar que estaríamos, nós dois, um dia, reinaugurando-a, como que fizemos há cerca de dois meses.
segunda-feira, 17 de agosto de 2009
Canoas inaugura primeiro Ponto de Leitura

A comunidade da vila João de Barro, no bairro NIterói, em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) recebeu na noite deste dia 12 o primeiro Ponto de Leitura da cidade. O ponto, ação do Ministério da Cultura, fica na sede da Associação Circo Voador, localizada na rua Chico Mendes, 100. O espaço funciona como uma biblioteca comunitária em uma das localidades mais dessassistidas do município. Apesar de Canoas possuir o segundo PIB do Rio Grande do Sul, possui alguns dos mais altos índices de violência do Estado, além de baixo IDH e Ideb. Por essas razões, figura na área do Programa Mais Cultura.
O Ponto de Leitura da Associação Circo Voador possui 650 obras, incluindo literatura infantil e infanto-juvenil, além de pufes, almofadas, estantes e um computador com mobiliário.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Jéferson Assução, a idéia é implementar mais dez Pontos em Canoas. “Em agosto, o ministro da Cultura virá a cidade e será assinado um termo de cooperação com mais de 40 municípios do Estado e esse mesmo termo possibilitará que tenhamos mais pontos de leitura no município”, enfatiza. O secretário também assinala que o ponto de leitura recém inaugurado estará conectado permanentemente com a Biblioteca Municipal e contará com ações de mediação de leitura.
De acordo com o presidente da Associação Circo Voador, Antonio Zacarias, a biblioteca será um importante espaço para os moradores da vila João de Barro e região de Niterói. “Este ponto de leitura deve ser visto como um local de inclusão, que irá contribuir muito nas atividades que já desenvolvemos na comunidade como a Hora do Conto, por exemplo”, diz. O Ponto de Leitura irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Canoas terá mais dois espaços semelhantes ao do Circo Voador até o final do ano: um na Fundação Cultural de Canoas e outro na Associação pela Cidadania e Inclusão Social (Acis).
sexta-feira, 14 de agosto de 2009
Pingue-Pongue e literatura argentina
Eu tinha 12 anos em 1982 e completava, com dedicação, na rua Jaguarão, da Mathias Velho, o álbum de figurinhas do Pingue-Pongue sobre a Copa da Espanha. Só o que me salvava da melancolia dos programas de domingo era o cheiro do chiclete grudado atrás do cabeludo Kempis ou do Zico. Também foi naquele ano que aprendi que o símbolo da seleção brasileira era um papagaio tocando um instrumento que eu nunca vira antes: um pandeiro. E que o que representava a Argentina vestia-se igual a meu vô Guilherme, de bombacha e chapéu nos campos de Santa Maria. Não sei se vem daí minha relação, afetiva, com a literatura do Prata. Constantemente renovada.
Ciências Morais
Ciências Morais (Cia das Letras), do argentino Martín Kohan, é, realmente, um baita livro. Como grande escritor que é, Kohan faz um mergulho de extrema delicadeza no ambiente setentista do início dos anos 80 (e a Guerra das Malvinas como pano de fundo). Ali, dá forma a Maria Teresa, personagem feminina que ele habilmente implanta no universo macho-man militarizado de uma tradicional escola bonaerense. É tempo dos homens de uniformes e bigodes finos. Da violência velada e muda. Das censuras silenciosas e dos desaparecimentos. E a maneira como Kohan escreve sobre isso, simplesmente, revela em sinédoques precisas cada tampa de fanta laranja da época.
quinta-feira, 13 de agosto de 2009
Mas não me altere o samba tanto assim...
Em Brasília, estive mais de uma vez nas terças-feiras acompanhando o som do cavaquinho do pessoal. Gente boa que faz o samba universitário mais famoso da capital federal. Agora inventaram uma muito massa. A roda de samba virou samba itinerante, nos moldes da família rodante em seu treiler colorido. Pois a malandragem classe média candango-carioca passou a levar o samba para distintas áreas das asas do avião, de maneira a possibilitar que o pagode não se interrompa com os silvos dos sempre atentos agentes da ordem.
Brinquei há alguns anos, dois ou três, que o nome dos referidos era Os Descamisados do Ritmo e que o show se chamava "Mas não me altere o samba tanto assim"... Maldade minha... Agora os caras têm, além dos sapatos tinindo de branco, dos botões da caimsa abertos e a barba por fazer um baixo acústico de, realmente, dar inveja.A rapaziada nem está mais sentindo a falta do cavaco, do pandeiro e do bandolim...
Brinquei há alguns anos, dois ou três, que o nome dos referidos era Os Descamisados do Ritmo e que o show se chamava "Mas não me altere o samba tanto assim"... Maldade minha... Agora os caras têm, além dos sapatos tinindo de branco, dos botões da caimsa abertos e a barba por fazer um baixo acústico de, realmente, dar inveja.A rapaziada nem está mais sentindo a falta do cavaco, do pandeiro e do bandolim...
domingo, 9 de agosto de 2009
O Mundo das Alternativas

Taxa Tobin, agricultura familiar, bens públicos globais, consumo crítico, Pib verde, economia solidária, software livre, ações cidadas em redes, democracia participativa, neossocialismo... Estas são palavras e conceitos novos, idispensáveis para entender a (nova) esquerda mundial e o fantástico tempo de intercâmbio de alternativas que estamos vivendo, desde o início das reuniões do Fórum Social Mundial, em 2001. Quais são as novas categorias a partir das quais uma boa (a melhor) parte esquerda mundial está atuando? O que as elites nao sabem quando criticam o movimento antiglobalização (econômica, para deixar claro)? O que a(s) esquerda(s) deixam escapar quando enxergam o mundo parcialmente? ... Em 2001, eu e Zaira Machado publicamos o livro O Mundo das Alternativas - pequeno dicionário para uma globalização solidária (Veraz Editores), que se dedica, exatamente, a fazer um recorrido dessas novas palavras com as quais dizemos o mundo novo possível a ser construído.
Beco dos Gatos

Dos meus, acho que um bom livro infanto-juvenil, pelo menos útil para a imaginação e para a reflexão, tão fora da ordem do dia dos homenzinhos-massas e suas telinhas brilhantes... Um bando de gatos faz de tudo para sobreviver nas ruas da cidade. Companheirismo, amizade, ambição, drama, recheados com alguma ação. Betinha, que vivia reclamando de tudo, ao ouvir a história da gatinha Marga e do gato Tibélius, aprendeu uma lição: a realidade, com suas garras afiadas, é dura, e muitas vezes não damos valor para o que a gente tem. A criançada de rua, tantos um nosso imenso e desigual país, que o digam.. Páginas: só 64, bem ilustradas por meu amigo Mário Guerreiro, que já pintou o sete em dezenas de livros. WS Editor - Fundação Cultural de Canoas (1999)
sábado, 8 de agosto de 2009
Marina, 19
Como um isqueiro acendendo velas numa mesa de jantar, meus dedos trêmulos pela traição incendiaram a pontinha do seio direito e correram, logo depois, para o outro, que já estava aceso. A lã grossa e macia da blusa apertada me fazia cócegas. Parecia uma mão peluda sobre a minha. Uma caranguejeira! Não sei por que uma idéia dessas, mas confesso que me veio à cabeça - e que hora para pensar naquilo! - a imagem de uma aranha peluda e negra das que tinham no pátio de minha casa, na distante infância, mexendo-se agora sobre a minha pele. Mas não tive medo.
Na luta com minha imaginação, ainda pude roçar umidamente o mamilo duro e de vez em quando beliscá-lo de leve - mas com alguma firmeza - como a boca de um passarinho mordiscando a presa deliciosa.
O problema é que eu não conseguia ver a cor, dali de onde estava, olhando para os olhos de Marina, a língua dentro da boca, a mão dentro da blusa, alisando o balãozinho macio e resistente com uma pontinha. A cor é o que menos importa, poderiam me dizer, num momento em que tudo, ou quase tudo, está escuro em volta, e só alguns faróis iluminam a noite, de vez em quando. Mas para mim, não. É determinante. Ou quase.
É que gosto de ver, com calma e bem de perto, as elevações, as pequenas depressões e curvas, os degradês e as pinceladas que a natureza dá no corpo de uma menina dessas, espalhando, muitas vezes com perfeição, aquela espécie de bege interrompido pelas marcas de biquinis, elásticos de calcinhas, risquinhos. Até as imperfeições! As raras imperfeições. Queria dizer que não tenho nenhum problema com elas. Pelo contrário, assumo que muitas decididamente me comovem. Viva as dobrinhas e protuberâncias! As falhas! As bolinhas (uma que outra, é claro)! Viva tudo o que aflora do corpo de uma mulherzinha. Aceito-a toda.
O que importa é que, dali, não dava para vê-las. E isso, confesso, me aborrecia um pouco. Não muito.
- Hum... - acredite: a voz sussurrada umedeceu com seu vapor minha orelha fria. E o pampa a nossos pés.
- Marina... - respondi dentro da boca, caverna aberta em que, sinceramente, já estava perdido, desde a saída de Porto Alegre. Minto: depois que o ônibus parou em Pantano Grande, para a janta. Voltamos para nossos lugares e ouvi seus olhos me chamando no silêncio escuro. Eu já sabia o que ia acontecer. E foi sem uma palavra. Rostos muito próximos, olhos enfiados um no outro, as bocas fizeram o que não foi preciso dizer. Fizeram, apenas fizeram, em toda a simplicidade abrangente do fazer, coisa que é impossível para a mais poderosa das palavras. A verdade é que a boca, mesmo, não fala, e as palavras não beijam. Senti o gostinho de chiclete e não consegui mais voltar. O ônibus ia a toda para Buenos Aires, mas era Marina que me levava embora. Aí é que tá o problema. Uma viagem inteira ainda pela frente e aquela boca que não se fechava nunca. Ela disse em portunhol:
- No consigo dormir en omnibus.
Então beijos e mais beijos a noite toda, um movimento já mecânico, mesmo assim o gosto se renovava a cada vez. Ou melhor: melhorava. A boca afundava na boca e os dois no assento do ônibus, a mão aprofundava a exploração barriguinha abaixo, sob o cobertor - que faz frio no pampa, ainda mais o argentino - aprofundava-se como uma perigosa coral se arrastando cheia de curvas pelo corpinho, até a calça de brim. Mão de mágico, dedos que sabem o que estão fazendo - sem querer me gabar - eles estouraram sem som o botão da calça. Marina buscou o ar como quem chega à superfície, esperneando do fundo da água de uma sanga.
Mas a maldita memória a todo o momento dispersando-me. Eu que não queria me lembrar de nada, descia o centro de Porto Alegre até a rodoviária. Será que não tinha esquecido alguma coisa? As mãos como duas toupeiras entrando pelos bolsos das calças, do casaco, da camisa, de novo, estava tudo ali, as passagens, e agora sob o céu preto do pampa a mão esquerda metida na calcinha de algodão, o dedo, um gaúcho sedento bebendo a água fresquinha com a boca direto na greta de pedra. - Isso é olho dágua - meu pai ensinava, mas não queria me lembrar daquilo. Não queria.
Eu entrei no ônibus e notei, de cara, que não estaria sozinho na viagem. Vi, no suporte onde se colocam garrafas de água mineral e salgadinhos etc, uma garrafinha. No banco, tinha uma almofada amassada, vestígios de ocupação humana. Mas quem? O ônibus já estava para sair, o que evidentemente aumentava uma natural ansiedade que tenho. A fila de homens, mulheres e crianças se espremia no corredor estreito procurando os números dos assentos. Não vou omitir que cada um que passava por mim era como o número em uma roleta rodando, rodando, rodando, primeiro vertiginosa, depois mais lentamente, e mais, e mais. Tec. Tec. Tec. Tec. Azar ou sorte? Azar ou sorte? O velho gordo? O menino espinhento? A senhora com sacolas? O homem de bigode? A moreninha de cabelos castanhos?
Quando ela sentou ao meu lado sem me olhar, sorri para mim mesmo e virei o rosto para o velho disco-voador que é a rodoviária estacionada à beira do Guaíba, tentando esconder o contentamento de quem tirou a sorte grande. Tive a ilusão de que o mundo se mexeu lá fora e de que nós é que não saíamos do lugar.
Na luta com minha imaginação, ainda pude roçar umidamente o mamilo duro e de vez em quando beliscá-lo de leve - mas com alguma firmeza - como a boca de um passarinho mordiscando a presa deliciosa.
O problema é que eu não conseguia ver a cor, dali de onde estava, olhando para os olhos de Marina, a língua dentro da boca, a mão dentro da blusa, alisando o balãozinho macio e resistente com uma pontinha. A cor é o que menos importa, poderiam me dizer, num momento em que tudo, ou quase tudo, está escuro em volta, e só alguns faróis iluminam a noite, de vez em quando. Mas para mim, não. É determinante. Ou quase.
É que gosto de ver, com calma e bem de perto, as elevações, as pequenas depressões e curvas, os degradês e as pinceladas que a natureza dá no corpo de uma menina dessas, espalhando, muitas vezes com perfeição, aquela espécie de bege interrompido pelas marcas de biquinis, elásticos de calcinhas, risquinhos. Até as imperfeições! As raras imperfeições. Queria dizer que não tenho nenhum problema com elas. Pelo contrário, assumo que muitas decididamente me comovem. Viva as dobrinhas e protuberâncias! As falhas! As bolinhas (uma que outra, é claro)! Viva tudo o que aflora do corpo de uma mulherzinha. Aceito-a toda.
O que importa é que, dali, não dava para vê-las. E isso, confesso, me aborrecia um pouco. Não muito.
- Hum... - acredite: a voz sussurrada umedeceu com seu vapor minha orelha fria. E o pampa a nossos pés.
- Marina... - respondi dentro da boca, caverna aberta em que, sinceramente, já estava perdido, desde a saída de Porto Alegre. Minto: depois que o ônibus parou em Pantano Grande, para a janta. Voltamos para nossos lugares e ouvi seus olhos me chamando no silêncio escuro. Eu já sabia o que ia acontecer. E foi sem uma palavra. Rostos muito próximos, olhos enfiados um no outro, as bocas fizeram o que não foi preciso dizer. Fizeram, apenas fizeram, em toda a simplicidade abrangente do fazer, coisa que é impossível para a mais poderosa das palavras. A verdade é que a boca, mesmo, não fala, e as palavras não beijam. Senti o gostinho de chiclete e não consegui mais voltar. O ônibus ia a toda para Buenos Aires, mas era Marina que me levava embora. Aí é que tá o problema. Uma viagem inteira ainda pela frente e aquela boca que não se fechava nunca. Ela disse em portunhol:
- No consigo dormir en omnibus.
Então beijos e mais beijos a noite toda, um movimento já mecânico, mesmo assim o gosto se renovava a cada vez. Ou melhor: melhorava. A boca afundava na boca e os dois no assento do ônibus, a mão aprofundava a exploração barriguinha abaixo, sob o cobertor - que faz frio no pampa, ainda mais o argentino - aprofundava-se como uma perigosa coral se arrastando cheia de curvas pelo corpinho, até a calça de brim. Mão de mágico, dedos que sabem o que estão fazendo - sem querer me gabar - eles estouraram sem som o botão da calça. Marina buscou o ar como quem chega à superfície, esperneando do fundo da água de uma sanga.
Mas a maldita memória a todo o momento dispersando-me. Eu que não queria me lembrar de nada, descia o centro de Porto Alegre até a rodoviária. Será que não tinha esquecido alguma coisa? As mãos como duas toupeiras entrando pelos bolsos das calças, do casaco, da camisa, de novo, estava tudo ali, as passagens, e agora sob o céu preto do pampa a mão esquerda metida na calcinha de algodão, o dedo, um gaúcho sedento bebendo a água fresquinha com a boca direto na greta de pedra. - Isso é olho dágua - meu pai ensinava, mas não queria me lembrar daquilo. Não queria.
Eu entrei no ônibus e notei, de cara, que não estaria sozinho na viagem. Vi, no suporte onde se colocam garrafas de água mineral e salgadinhos etc, uma garrafinha. No banco, tinha uma almofada amassada, vestígios de ocupação humana. Mas quem? O ônibus já estava para sair, o que evidentemente aumentava uma natural ansiedade que tenho. A fila de homens, mulheres e crianças se espremia no corredor estreito procurando os números dos assentos. Não vou omitir que cada um que passava por mim era como o número em uma roleta rodando, rodando, rodando, primeiro vertiginosa, depois mais lentamente, e mais, e mais. Tec. Tec. Tec. Tec. Azar ou sorte? Azar ou sorte? O velho gordo? O menino espinhento? A senhora com sacolas? O homem de bigode? A moreninha de cabelos castanhos?
Quando ela sentou ao meu lado sem me olhar, sorri para mim mesmo e virei o rosto para o velho disco-voador que é a rodoviária estacionada à beira do Guaíba, tentando esconder o contentamento de quem tirou a sorte grande. Tive a ilusão de que o mundo se mexeu lá fora e de que nós é que não saíamos do lugar.
Martín Kohan em Canoas

Foi muito massa a vinda do escritor argentino Martín Kohan a Canoas, dia desses. Falou e encantou com uma simplicidade bacana misturada a um acurado olhar para a literatura. Fiz a mediação da mesa em que começamos por certo excesso de Borges, desde seu centenário, há dez anos, passando por quem ainda sobrevive à sua sombra terrível na América Latina - quase nada: Juan José Saer, Leopoldo Brizuela, Cesar Aira. E o próprio Martin Kohan, claro. Acabei de ler o muito bom Ciências Morais (Cia das Letras). Me lembrou muito Saer, de quem foi amigo e com quem conviveu curto tempo em Paris.
Braço de Escritor
Tenho braços fortes, de estátua grega feita por um Fídias. Mas não brancos de dentes do mármore. São duros iguais aos meus caninos, porém não pálidos. Queimo-os ao sol subtropical, de maneira que mantêm um suave dourado, como de pescadores romanos. Quando olho meu corpo de relance no espelho, saído com distração do banho, me deparo com membros que bem poderiam pertencer a um atleta olímpico. Seguro a toalha molhada, que levo para pendurar no varal, como um troféu de pano.
Não me comparo a qualquer atleta, como esses magrelas ciclistas ou os esqueletos que se atiram por cima da vara e caem de pés pro alto na cama de mola. Pareço mais um lançador de dardos dos jarros jônicos, reproduzido na capa de uma edição da Odisséia. Mas não gosto dos meus braços. Eles não combinam comigo.
Desde que comecei a nadar, há dois anos, a água da piscina vem esculpindo seus desenhos, como se tirasse o excesso de gordura e carnes para deixar a estátua que já havia por baixo das sobras. Eu estava ali o tempo todo soterrado por aqueles quilos de células e líquidos que evaporaram para a atmosfera, à medida que meus braços remaram contra a pesada resistência.
Uma hora por dia dentro daquela grande fôrma, repetindo e repetindo movimentos, como se numa siderúrgica, e eis-me hoje esse amontoado de músculos, jacaré pingando água, quando sai da piscina, barriga de dar inveja a muitos galãs. Mas não me reconheço em meu novo corpo.
Obviamente, que minha mulher tem tirado proveito. E cada vez mais me solicita para levantar alguma caixa pesada ou arredar móveis dentro de casa. Marcelo! Ela grita do outro lado do apartamento, e desligo-me do computador para os dez trabalhos diários de um Hércules de cozinha. Abro uma gaveta e os músculos saltam, giro uma maçaneta e eles se retorcem juntos, como se a fosse esmagá-la, puxo uma garrafa da geladeira e é como se estrebuchasse inteiros seus intestinos frios para o chão da casa.
Braços rudes, braços de lenhador, de caminhoneiro, que, obviamente, não produziriam nenhuma palavra. Surpreende-me que saiam deles delicados livros...
Na rua, atraio olhares das senhoras da minha idade. Quando encostam seus dedos macios, faço saltar uma batata de debaixo da pele. Sorriem com olhinhos apertados. Na feira, surpreendo carregando toneladas de sacolas de frutas, para aplauso dos fregueses, e até mesmo do Elias, feirante malencarado. Um dia desses, convidou-me para uma queda de braços. Venci-o, evidentemente. Mesmo assim, rodei pela pracinha da feira, de cabeça baixa, mãos para trás, com uma coisa por dentro. Ignorava as ovações, estava surdo aos elogios, cego às criancinhas, insensível às senhoras, e caminhei pelas ruas, com a firmeza da insatisfação.
Chutei uma latinha. Ela voou mais longe do que eu queria. Estalou na nuca de um operário de construção. Veio reclamar. Ficou roxo dentro da gravata que lhe dei. Os companheiros dele me xingaram de longe, mas não dei bola.
A história da literatura não registra braços como os meus.
Naquele estado, fui parar num bar da Venâncio, coisa que jamais fizera antes. Sentei e gritei ao garçom, tonitroantemente. Que me trouxesse uma garrafa de pinga! Eram ainda 10h da manhã. Pensei em Shakespeare, o "sacode espadas": esmagava com um dedo. Proust, um asmático, Dostoievski, epilético, Tchecov, tuberculoso, Milton, Homero e Borges, três ceguinhos,
Cervantes, maneta... Em pouco tempo estava bêbado. Berrei no bar, como um Zeus, um Thor, um Hulk:
- Alguém, para me escutar! - e sacudi a mesa, Netuno furioso balançando o pardacento mar.
O gerente empurrou de leve o garçom, que aproximou-se como uma galinha.
Pôs ovos na cadeira.
Eu balbuciei:
- Ouve minha poesia....
E comecei:
- Sei que não sou Shakespeare, sei que não sou. Sei que não sou Dante e isso para mim é um inferno. Diante do espelho não é Borges quem vejo, embora fosse meu desejo. Sou mais cego que ele, que Milton, que Homero, existo menos que Homero. Sei que não sou Dostoievski, para você um crime, pra mim, um castigo, tentei ser Proust, mas foi tempo perdido. Não adianta ir em busca, do que não sou. Eu sei que não sou - mas, antes do fim, Morfeu e a cachacinha atiraram meu pesado corpo sobre a mesa.
Ninguém nunca ousou comentar o incidente, mas noto que desde então bolinhos de gente param os burburinhos se me aproximo. Cumprimentam-me, e faço que não vejo. Gênio pensando, mão direita segurando o queixo. Não são braços de quem procura coisas atrás da delicada folha de um livro, mas de uma pedra.
Não me comparo a qualquer atleta, como esses magrelas ciclistas ou os esqueletos que se atiram por cima da vara e caem de pés pro alto na cama de mola. Pareço mais um lançador de dardos dos jarros jônicos, reproduzido na capa de uma edição da Odisséia. Mas não gosto dos meus braços. Eles não combinam comigo.
Desde que comecei a nadar, há dois anos, a água da piscina vem esculpindo seus desenhos, como se tirasse o excesso de gordura e carnes para deixar a estátua que já havia por baixo das sobras. Eu estava ali o tempo todo soterrado por aqueles quilos de células e líquidos que evaporaram para a atmosfera, à medida que meus braços remaram contra a pesada resistência.
Uma hora por dia dentro daquela grande fôrma, repetindo e repetindo movimentos, como se numa siderúrgica, e eis-me hoje esse amontoado de músculos, jacaré pingando água, quando sai da piscina, barriga de dar inveja a muitos galãs. Mas não me reconheço em meu novo corpo.
Obviamente, que minha mulher tem tirado proveito. E cada vez mais me solicita para levantar alguma caixa pesada ou arredar móveis dentro de casa. Marcelo! Ela grita do outro lado do apartamento, e desligo-me do computador para os dez trabalhos diários de um Hércules de cozinha. Abro uma gaveta e os músculos saltam, giro uma maçaneta e eles se retorcem juntos, como se a fosse esmagá-la, puxo uma garrafa da geladeira e é como se estrebuchasse inteiros seus intestinos frios para o chão da casa.
Braços rudes, braços de lenhador, de caminhoneiro, que, obviamente, não produziriam nenhuma palavra. Surpreende-me que saiam deles delicados livros...
Na rua, atraio olhares das senhoras da minha idade. Quando encostam seus dedos macios, faço saltar uma batata de debaixo da pele. Sorriem com olhinhos apertados. Na feira, surpreendo carregando toneladas de sacolas de frutas, para aplauso dos fregueses, e até mesmo do Elias, feirante malencarado. Um dia desses, convidou-me para uma queda de braços. Venci-o, evidentemente. Mesmo assim, rodei pela pracinha da feira, de cabeça baixa, mãos para trás, com uma coisa por dentro. Ignorava as ovações, estava surdo aos elogios, cego às criancinhas, insensível às senhoras, e caminhei pelas ruas, com a firmeza da insatisfação.
Chutei uma latinha. Ela voou mais longe do que eu queria. Estalou na nuca de um operário de construção. Veio reclamar. Ficou roxo dentro da gravata que lhe dei. Os companheiros dele me xingaram de longe, mas não dei bola.
A história da literatura não registra braços como os meus.
Naquele estado, fui parar num bar da Venâncio, coisa que jamais fizera antes. Sentei e gritei ao garçom, tonitroantemente. Que me trouxesse uma garrafa de pinga! Eram ainda 10h da manhã. Pensei em Shakespeare, o "sacode espadas": esmagava com um dedo. Proust, um asmático, Dostoievski, epilético, Tchecov, tuberculoso, Milton, Homero e Borges, três ceguinhos,
Cervantes, maneta... Em pouco tempo estava bêbado. Berrei no bar, como um Zeus, um Thor, um Hulk:
- Alguém, para me escutar! - e sacudi a mesa, Netuno furioso balançando o pardacento mar.
O gerente empurrou de leve o garçom, que aproximou-se como uma galinha.
Pôs ovos na cadeira.
Eu balbuciei:
- Ouve minha poesia....
E comecei:
- Sei que não sou Shakespeare, sei que não sou. Sei que não sou Dante e isso para mim é um inferno. Diante do espelho não é Borges quem vejo, embora fosse meu desejo. Sou mais cego que ele, que Milton, que Homero, existo menos que Homero. Sei que não sou Dostoievski, para você um crime, pra mim, um castigo, tentei ser Proust, mas foi tempo perdido. Não adianta ir em busca, do que não sou. Eu sei que não sou - mas, antes do fim, Morfeu e a cachacinha atiraram meu pesado corpo sobre a mesa.
Ninguém nunca ousou comentar o incidente, mas noto que desde então bolinhos de gente param os burburinhos se me aproximo. Cumprimentam-me, e faço que não vejo. Gênio pensando, mão direita segurando o queixo. Não são braços de quem procura coisas atrás da delicada folha de um livro, mas de uma pedra.
sexta-feira, 7 de agosto de 2009
Vespa
Faltava pouco para chegarem à fronteira, quando o ônibus parou com um pneu estourado. O ar estava quieto e vazio, como o gramado em volta. Aos poucos, os passageiros desceram, anestesiados pela viagem, mexendo as pernas para que o sangue voltasse a se derramar pelos vasos mais abaixo dos membros e certas regiões pressionadas pela posição nos assentos. Lean respondeu ao ultrapassar a porta e pisar a grama alta:
- Mas, de certa forma, é assim até hoje. Tudo o que fazemos é costurar com linha e agulha. Dar uns pontos, fechar as coisas lá dentro... Olha. Não me recordo mais o nome do livro, mas é uma patética biografia, a de um cientista inglês que pensava “livrar” as pessoas de crenças, levando a clareza da ciência aos mais distantes vilarejos europeus. É uma das coisas mais tristes que já li em minha vida. Porque me dá a sensação de estar contando minha própria história. Como uma espécie de pastor racionalista e sua inabalável fé, esse cara trocava as crenças das populações pelas “descobertas” científicas da época, as quais, agora, entendemos eram tão estúpidas quanto as crenças. É claro que fazemos isso até hoje, só não o sabemos. Trocamos crenças absurdas por outras mais fáceis de serem aceitas, por seus resultados mais úteis que as anteriores.
Um imenso campo por todos os lados, um mar verde, um céu azul. O sol imitava a bandeira uruguaia, com o céu atravessado por faixas finas de gás branco. E silêncio. Até que Lean ouviu o barulho de uma vespa riscar o ar. Tentou dar um tapa, mas não encontrou nada.
- Un día, u mar cobriu toda essa extensión, desde o Rio Grande do Sul, o Uruguai inteiro, até o norte da Argentina. La Pampa, dissem, ainda tem sal - ela falou, escabelada, amassada pelas longas horas no ônibus. Na África do Sul e na Austrália, também. Tudo era um grande pampa submerso. E nós, microbios, se tanto...
- História Natural da Tolice - ele disse, lembrando-se de repente. - É um livro muito interessante, que investiga as origens de diversas crenças para demonstrar que, na verdade, ainda acreditamos em muita coisa boba, mesmo nós, cientistas.
- Sim. Há várias tolices dessas. Aprendi algumas na faculdade - ela falou.
- A crença de que os cabelos e unhas crescem após a morte é um exemplo. Bastaria que se observasse alguma vez para ver que isso não é verdade, mas as pessoas preferem acreditar.
- Ou que o cal extermina com os corpos?
- "Vamos pôr uma pá de cal sobre esse assunto”". Sim, o cal, que na verdade conserva. Tem uma outra coisa. Esses dias, estive pensando sobre a resposta para a boba pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
- Ovo!?
- Sim, uevo y la galina.
- Ah!, sim. O uevo, é claro, veio primero. É evidente que o uevo existe desde muito antes da galinia, desde muito antes da existência delas, e dos próprios dinos, que também punham uevos. Desde Darwin que se deveria saber que de um uevo nasceu uma galinia, em milhares de anos de evoluçao. Simples. Mas essa é uma outra história. Trata-se de crença. O problema é a crença da ciência.
A vespa continuava a voejar. De novo, tentou afastá-la.
- O que houve, Lean?
- Uma vespa. Lá.
- Você sabe se as vespas enxergam apenas negro y blanco, como as abellas? - ela falou, procurando, aparentemente sem encontrar, o ponto negro que parecia andar ao redor deles, que tanto o enchia de medo. Há alguns meses, Lean tinha passado a enxergar um ponto preto ao lado de fora com o olho esquerdo. Para onde virasse, lá estava ele. No começo, pequeno, mas depois o suficiente para ser confundido com uma mosca em cima da mesa, se estivesse distraído. Começou a suar, Carina não percebeu. Então, falou, para espantar o bicho:
- Não sei. Mas me entristece saber que não podemos enxergar em outras circunstâncias e de que as cores não existam, por si só, a não ser porque as vemos como as vemos, porque temos nossos olhos, esse mecanismo absurdamente complexo, e todas as condições possíveis ao redor. Uma delas não existindo e não poderíamos ver mais nada. É claro que você sabe por que o céu é azul.
- Por caussa da atmosfera...
- Sim, como um prisma, que amarela em uma da pontas, descendo para o vermelho, até o preto, à noite, não é? É uma ilusão que vemos, todos juntos.
Nada tinha graça, com aquela mulher. O mundo todo na ponta da língua e a conversa deles a de cegos ao contrário tateando para tentar encontrar algo que os dois não vissem com clareza. Idéias claras e distintas.
O Sol estava vigoroso, mas não quente, àquela hora da manhã. Carina e Lean empastados da noite sem dormir. Ela não sorriu desde que desceu. Permanecia em silêncio com as mãos nos bolsos de trás, pequenos, apertados. Lean queria abraçá-la, para retomar em algum momento o que havia acontecido de noite, mas parecia que tinham deixado se criar uma distância impossível de ser recuperada, algo que precisariam percorrer de novo quase do zero, como se recém tivessem saído de Montevidéu.
Muda, ela passou a se fixar no burburinho em volta do pneu. Talvez, como ele, tenha visto um dos motoristas subir no ônibus, dar ré depois que um pedaço de madeira foi ajeitado no chão fofo. Lean percebeu que seus olhos grandes fecharam-se e abriram-se com certo peso de sono, talvez desinteresse, alguma indiferença. A conversa havia esfriado, de novo, e ele tentava achar qualquer coisa para retomá-la, uma forma de reconectarem-se e de, se possível, puxar Carina, que já ia longe, para perto. Sabia que, sem as palavras certas, não poderia fazer nada de novo, e que um novo beijo ou o que fosse só viria após ultrapassado o obstáculo que se formara entre eles. Estranhava que ela não quisesse fazer o mesmo esforço.
O pedaço de madeira quebrou. Decepcionado, um dos homens bateu com os braços nas pernas. Correu até a pista, ao ver um ônibus se aproximar de onde estavam. O carro bufou seu freio e um mecanismo fez a porta abrir-se. Lean olhou Carina, de lado. Seus olhos se levantaram lentamente até os dele. Falou:
- Una vez, na Índia, bebi agua du Ganges... - e sorriu da peraltice. - Aquela agua sucha y contaminada du Ganges, cheia de corpos dos mortos, y nao mi feiz mal.
Um ano inteiro na Índia. Médica sanitarista. Conheceram-se na saída de Montevidéu, onde ele estudava. Agora iam a Porto Alegre. Ele para passar as férias em casa, ela para um curso na Ufrgs.
- Você teve sorte.
- Si. Boa parte da água doce da Índia está contaminada pelo mau usso da superpopulación, e deve ser tratada. Mais eles bebem do Ganges, porque é sagrado...
Ela tinha algumas tatuagens pelo corpo. Mostrou-lhe duas. Uma era um desenho abstrato, escuro, com uma bolinha preta na ponta esquerda. Lean piscou para ver se era aquilo mesmo.
- Un tribal - ela explicou. Não o tinha notado à noite. Só o piercing, na sobrancelha direita. No calor em que estavam metidos, lambeu-o, com sede, sentindo o gosto do metal eletrizar a língua e os dentes. Ouviu ela falar numa estranha língua de ar quente em sua orelha, e respondeu como se entendesse palavra por palavra.
- Desculpe-me perguntar, mas tem uma manchinha preta logo acima de sua tatuagem?
- Ah! Sim. Ele pintou um sinal que eu tenho. Está bem, assim, não?
- Claro. Está bem assim.
Os homens comemoraram a pequena vitória, depois de apertarem os últimos parafusos do pneu. Foi quando ela, que durante o tempo em que conversavam observava como ele a ação dos trabalhadores, voltou os olhos para Lean, um pouco acima dos dela, e falou:
- Nao vamos mais poder nos ver, quando chegarmos a Porto Alegre...
Os homens guardavam a grande roda dilacerada.
- Por quê? - ele ainda olhava a vespa brincando de se esconder no ar, em volta.
Alguns carros passavam zumbindo grave, sob o sol, agora um tanto mais forte pelo passar de quase uma hora. Pensou que, depois de tudo o que havia acontecido dentro do ônibus, o mais natural seria que procurassem um lugar escondido da curiosidade dos outros, do olhar do homem na poltrona ao lado, espichado, sem conseguir dormir, para cima deles. Um lugar entre quatro paredes, um recorte do mundo, protegido das contingências, do aleatório, da onipotência do acaso, um quarto recortado no espaço e no tempo, preparado só para dar as respostas que quisessem, objetivas, como o método inventado por Descartes e que consistia em submeter o real a condições específicas, controladas, para que as respostas pudessam ser as que tínhamos em mente antes mesmo de fazer a experiência. Idéias claras e distintas.
Seria natural, então, que, depois de tantas horas encontrados soltos no acaso, tivessem, por fim, um lugar em que a única coisa que saísse do controle fossem os corpos trocando cheiros e líquidos, pêlos e gostos. Um lugar onde pudessem, longe dos olhos dos espectadores, se esparramar, se ver por inteiro, não mais aos pedaços, como dentro do ônibus, o canto de um pescoço, uma orelha, um olho, uma parte do lábio superior, a rigidez do seio, uma parte das costas, a calcinha, vista pela calça aberta e puxada um pouco para baixo, sob o cobertor curto demais, que levou para a viagem, pensando que, para ele, bastaria... E a vespa.
O ônibus finalmente arrancaria.
- Vamos? - Carina convidou. Lean aceitou quieto, girando a acompanhar, no ar, a vespa silenciosa, que, sabia, o atordoaria pelo resto da vida. Primeiro era uma formiguinha. Outro dia, passou a ser uma manchinha um pouco maior. Agora, uma vespa. Mais tarde, um morcego, um anu, um corvo e, então, sabia, toda sua visão seria tomada pelo negror das coisas. As pessoas já entravam no carro e ele ainda perdido acompanhava a vespa voejando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e o som de um que outro carro passando.
- Você a está vendo, Carina?
- Vendo o quê?
- A vespa...
- Ah! A vespa? Vamos embora! – ela deu um tapa que a afastou seca para longe, indo bater na lataria. Lean subiu no ônibus sorrindo e a abraçando, enquanto o motorista resmungava e apontava o relógio no pulso.
- Mas, de certa forma, é assim até hoje. Tudo o que fazemos é costurar com linha e agulha. Dar uns pontos, fechar as coisas lá dentro... Olha. Não me recordo mais o nome do livro, mas é uma patética biografia, a de um cientista inglês que pensava “livrar” as pessoas de crenças, levando a clareza da ciência aos mais distantes vilarejos europeus. É uma das coisas mais tristes que já li em minha vida. Porque me dá a sensação de estar contando minha própria história. Como uma espécie de pastor racionalista e sua inabalável fé, esse cara trocava as crenças das populações pelas “descobertas” científicas da época, as quais, agora, entendemos eram tão estúpidas quanto as crenças. É claro que fazemos isso até hoje, só não o sabemos. Trocamos crenças absurdas por outras mais fáceis de serem aceitas, por seus resultados mais úteis que as anteriores.
Um imenso campo por todos os lados, um mar verde, um céu azul. O sol imitava a bandeira uruguaia, com o céu atravessado por faixas finas de gás branco. E silêncio. Até que Lean ouviu o barulho de uma vespa riscar o ar. Tentou dar um tapa, mas não encontrou nada.
- Un día, u mar cobriu toda essa extensión, desde o Rio Grande do Sul, o Uruguai inteiro, até o norte da Argentina. La Pampa, dissem, ainda tem sal - ela falou, escabelada, amassada pelas longas horas no ônibus. Na África do Sul e na Austrália, também. Tudo era um grande pampa submerso. E nós, microbios, se tanto...
- História Natural da Tolice - ele disse, lembrando-se de repente. - É um livro muito interessante, que investiga as origens de diversas crenças para demonstrar que, na verdade, ainda acreditamos em muita coisa boba, mesmo nós, cientistas.
- Sim. Há várias tolices dessas. Aprendi algumas na faculdade - ela falou.
- A crença de que os cabelos e unhas crescem após a morte é um exemplo. Bastaria que se observasse alguma vez para ver que isso não é verdade, mas as pessoas preferem acreditar.
- Ou que o cal extermina com os corpos?
- "Vamos pôr uma pá de cal sobre esse assunto”". Sim, o cal, que na verdade conserva. Tem uma outra coisa. Esses dias, estive pensando sobre a resposta para a boba pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
- Ovo!?
- Sim, uevo y la galina.
- Ah!, sim. O uevo, é claro, veio primero. É evidente que o uevo existe desde muito antes da galinia, desde muito antes da existência delas, e dos próprios dinos, que também punham uevos. Desde Darwin que se deveria saber que de um uevo nasceu uma galinia, em milhares de anos de evoluçao. Simples. Mas essa é uma outra história. Trata-se de crença. O problema é a crença da ciência.
A vespa continuava a voejar. De novo, tentou afastá-la.
- O que houve, Lean?
- Uma vespa. Lá.
- Você sabe se as vespas enxergam apenas negro y blanco, como as abellas? - ela falou, procurando, aparentemente sem encontrar, o ponto negro que parecia andar ao redor deles, que tanto o enchia de medo. Há alguns meses, Lean tinha passado a enxergar um ponto preto ao lado de fora com o olho esquerdo. Para onde virasse, lá estava ele. No começo, pequeno, mas depois o suficiente para ser confundido com uma mosca em cima da mesa, se estivesse distraído. Começou a suar, Carina não percebeu. Então, falou, para espantar o bicho:
- Não sei. Mas me entristece saber que não podemos enxergar em outras circunstâncias e de que as cores não existam, por si só, a não ser porque as vemos como as vemos, porque temos nossos olhos, esse mecanismo absurdamente complexo, e todas as condições possíveis ao redor. Uma delas não existindo e não poderíamos ver mais nada. É claro que você sabe por que o céu é azul.
- Por caussa da atmosfera...
- Sim, como um prisma, que amarela em uma da pontas, descendo para o vermelho, até o preto, à noite, não é? É uma ilusão que vemos, todos juntos.
Nada tinha graça, com aquela mulher. O mundo todo na ponta da língua e a conversa deles a de cegos ao contrário tateando para tentar encontrar algo que os dois não vissem com clareza. Idéias claras e distintas.
O Sol estava vigoroso, mas não quente, àquela hora da manhã. Carina e Lean empastados da noite sem dormir. Ela não sorriu desde que desceu. Permanecia em silêncio com as mãos nos bolsos de trás, pequenos, apertados. Lean queria abraçá-la, para retomar em algum momento o que havia acontecido de noite, mas parecia que tinham deixado se criar uma distância impossível de ser recuperada, algo que precisariam percorrer de novo quase do zero, como se recém tivessem saído de Montevidéu.
Muda, ela passou a se fixar no burburinho em volta do pneu. Talvez, como ele, tenha visto um dos motoristas subir no ônibus, dar ré depois que um pedaço de madeira foi ajeitado no chão fofo. Lean percebeu que seus olhos grandes fecharam-se e abriram-se com certo peso de sono, talvez desinteresse, alguma indiferença. A conversa havia esfriado, de novo, e ele tentava achar qualquer coisa para retomá-la, uma forma de reconectarem-se e de, se possível, puxar Carina, que já ia longe, para perto. Sabia que, sem as palavras certas, não poderia fazer nada de novo, e que um novo beijo ou o que fosse só viria após ultrapassado o obstáculo que se formara entre eles. Estranhava que ela não quisesse fazer o mesmo esforço.
O pedaço de madeira quebrou. Decepcionado, um dos homens bateu com os braços nas pernas. Correu até a pista, ao ver um ônibus se aproximar de onde estavam. O carro bufou seu freio e um mecanismo fez a porta abrir-se. Lean olhou Carina, de lado. Seus olhos se levantaram lentamente até os dele. Falou:
- Una vez, na Índia, bebi agua du Ganges... - e sorriu da peraltice. - Aquela agua sucha y contaminada du Ganges, cheia de corpos dos mortos, y nao mi feiz mal.
Um ano inteiro na Índia. Médica sanitarista. Conheceram-se na saída de Montevidéu, onde ele estudava. Agora iam a Porto Alegre. Ele para passar as férias em casa, ela para um curso na Ufrgs.
- Você teve sorte.
- Si. Boa parte da água doce da Índia está contaminada pelo mau usso da superpopulación, e deve ser tratada. Mais eles bebem do Ganges, porque é sagrado...
Ela tinha algumas tatuagens pelo corpo. Mostrou-lhe duas. Uma era um desenho abstrato, escuro, com uma bolinha preta na ponta esquerda. Lean piscou para ver se era aquilo mesmo.
- Un tribal - ela explicou. Não o tinha notado à noite. Só o piercing, na sobrancelha direita. No calor em que estavam metidos, lambeu-o, com sede, sentindo o gosto do metal eletrizar a língua e os dentes. Ouviu ela falar numa estranha língua de ar quente em sua orelha, e respondeu como se entendesse palavra por palavra.
- Desculpe-me perguntar, mas tem uma manchinha preta logo acima de sua tatuagem?
- Ah! Sim. Ele pintou um sinal que eu tenho. Está bem, assim, não?
- Claro. Está bem assim.
Os homens comemoraram a pequena vitória, depois de apertarem os últimos parafusos do pneu. Foi quando ela, que durante o tempo em que conversavam observava como ele a ação dos trabalhadores, voltou os olhos para Lean, um pouco acima dos dela, e falou:
- Nao vamos mais poder nos ver, quando chegarmos a Porto Alegre...
Os homens guardavam a grande roda dilacerada.
- Por quê? - ele ainda olhava a vespa brincando de se esconder no ar, em volta.
Alguns carros passavam zumbindo grave, sob o sol, agora um tanto mais forte pelo passar de quase uma hora. Pensou que, depois de tudo o que havia acontecido dentro do ônibus, o mais natural seria que procurassem um lugar escondido da curiosidade dos outros, do olhar do homem na poltrona ao lado, espichado, sem conseguir dormir, para cima deles. Um lugar entre quatro paredes, um recorte do mundo, protegido das contingências, do aleatório, da onipotência do acaso, um quarto recortado no espaço e no tempo, preparado só para dar as respostas que quisessem, objetivas, como o método inventado por Descartes e que consistia em submeter o real a condições específicas, controladas, para que as respostas pudessam ser as que tínhamos em mente antes mesmo de fazer a experiência. Idéias claras e distintas.
Seria natural, então, que, depois de tantas horas encontrados soltos no acaso, tivessem, por fim, um lugar em que a única coisa que saísse do controle fossem os corpos trocando cheiros e líquidos, pêlos e gostos. Um lugar onde pudessem, longe dos olhos dos espectadores, se esparramar, se ver por inteiro, não mais aos pedaços, como dentro do ônibus, o canto de um pescoço, uma orelha, um olho, uma parte do lábio superior, a rigidez do seio, uma parte das costas, a calcinha, vista pela calça aberta e puxada um pouco para baixo, sob o cobertor curto demais, que levou para a viagem, pensando que, para ele, bastaria... E a vespa.
O ônibus finalmente arrancaria.
- Vamos? - Carina convidou. Lean aceitou quieto, girando a acompanhar, no ar, a vespa silenciosa, que, sabia, o atordoaria pelo resto da vida. Primeiro era uma formiguinha. Outro dia, passou a ser uma manchinha um pouco maior. Agora, uma vespa. Mais tarde, um morcego, um anu, um corvo e, então, sabia, toda sua visão seria tomada pelo negror das coisas. As pessoas já entravam no carro e ele ainda perdido acompanhava a vespa voejando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e o som de um que outro carro passando.
- Você a está vendo, Carina?
- Vendo o quê?
- A vespa...
- Ah! A vespa? Vamos embora! – ela deu um tapa que a afastou seca para longe, indo bater na lataria. Lean subiu no ônibus sorrindo e a abraçando, enquanto o motorista resmungava e apontava o relógio no pulso.
Olho de robô
Steven Pinker diz, em Como a Mente Funciona, que um robô nunca vê, ao contrário do que querem nos fazer crer alguns filmes por aí. Na verdade, nas histórias de ficção científica, o efeito correspondente ao olhar das máquinas é produzido com lentes grande-angulares ou retículas de fios cruzados que eles colocam na tela. Mas essas imagens, supostamente as visões dos robôs, que vemos na tevê, aparecem apenas para nós, humanos, que já possuímos um olho e um cérebro funcionando, e que podemos captá-las. Nas entranhas de fios de um robô, não se vê nada a não ser uma série de números, cada um correspondendo a um brilho entre milhões de retalhos mais escuros ou menos. Mas talvez seja tão impossível que os robôs enxerguem até mesmo isso quanto, ao tentar abrir alguém vivo de verdade, vermos sua alma lá dentro. Os números, afinal, são apenas descargas eletrônicas. Era isso o que eu tentava dizer a XY8, àquela noite agradável de novembro, num bar da Rua da República..
- Você me vê, mas não me vê, entende, XY?
Ele não respondeu, acho que um tanto magoado. Olhou-me de um jeito que fez me sentir rasgado por uma serra. Ergueu o braço para pedir outra Polar. A noite de primavera estava agradável para uma conversa. As mesas, na rua da República, apinhadas de gente que sorria, bebia e trocava olhares com os habitantes das ilhas de metal mais próximas. Retomei, ante o bocejo de XY8:
– A questão é que, na verdade, vocês são completamente cegos, por mais que possam identificar formas e movimentos em seus mais delicados detalhes, com mais precisão até do que nós. Mesmo vendo, não vêem. Mais do que isso. Olha! Vocês não enxergam nem mesmo os tais números que existem aí dentro de suas cabeças! Como veriam, se não existe nada entre vocês e as coisas? E sabe por que digo isso? Pelo simples fato de que vocês, afinal, também são coisas. Se nós, os humanos, atribuímos a objetos de fios e placas de metal algumas sensações que temos, só pode ser por certo desespero, angústia por estarmos sós no universo. Não acha?
Ele concordou, com a cabeça. Ainda mudo, no entanto, enfiou mais três botõezinhos de amendoim na boca e limpou as cascas que caíram sobre o colo. Tomei novo gole de Polar. Então, continuei, mudando um pouco o foco do assunto, que não parecia ser muito de seu agrado. E eu sei quando começo a ser chato.
– Você, que gosta de poesia, XY. Penso que pelo menos um tipo de poesia não passa, tal qual a filosofia, de uma técnica retórica de se referir às evidências de modo avesso, de maneira reversa, cuja principal ilusão é ver dotadas de vida coisas que não são. E a filosofia tem esse mesmo desejo, mas não a mesma coragem.
Foi então que XY8 interrompeu, com sua voz rouca, pausada. Fiquei feliz por ver que ele queria falar:
– Máquinas e pontes, estradas e janelas, rios e estrelas, fábricas e calçadas, muitas vezes vi-as se moverem por meio de figuras de linguagem, que imaginei serem o centro da poesia. Confesso que, por pouco, a vaidade não me fez ver resolvidos todos os enigmas, via literatura, não fosse o problema crucial de que as palavras, infelizmente, não são as coisas. Que tudo o que se fala é apenas aquilo que se fala, que não há relação do que é dito com os objetos, como imagina, por exemplo, a iludida filosofia. Não é isso o que queria dizer?
– Exatamente. Exatamente. E nessas mesmas palavras...
– Não te parece, então – ele retomou - que o problema de vocês seja o inverso do nosso, o que os envolve em idêntica cegueira? Vocês são apenas sujeito; sua ponte com o objeto está quebrada. E tudo o que olham leva-os, por isso, a inevitáveis ilusões. Só podem enxergar por dentro do olho de vocês. Como saber se chegam, de fato, às coisas reais aqui fora? As cores, por exemplo... Como pode dizer que elas são o que são fora de ti, Guilherme? Vemos números? Nem mesmo isso? Sim, e daí? Vocês parecem ver algo que está apenas dentro de vocês, mas não nas coisas. Para nós só existem coisas, para vocês, só vocês.
Meu amigo robô é, de fato, uma grande companhia. Fantasma cibernético da Cidade Baixa, o encontro de vez em quando rodando de bar em bar pelas belas ruas do bairro, à procura de bons lugares para beber, conversar e se chatear o mínimo possível. E há lugares realmente legais. A República é um deles, a Lima e Silva, aquela coisa, que vai se transformando num mar de gente de gosto cada vez mais duvidoso à medida que se aproxima da Perimetral. Mas há ruazinhas e bares escondidos, legais e distantes da turba.
De vez em quando tem shows de jazz, inclusive, mas o interessante, mesmo, é a confluência das esquinas mais estranhas de Porto Alegre. Gosto até da pior delas. Uma, na José do Patroncínio, junta, um de frente para outro, bares de metaleiros, surfistas, playboys, funkeiros, pagodeiros, rockers etc, num espaço de menos de 100 metros. Um mergulho ou outro nesses ambientes é legal, mas nada mais que uma boa meia hora e já se começa a sentir o cheiro da puerilidade, do prosaísmo, que exala mais forte que a fragrância dos perfumes baratos.
Entretanto, como costuma acontecer, eu e XY8 já tínhamos pago a conta e perambulado por outros bares, tentando reconhecer algum amigo no meio da massa. Acabamos pulando como dois sapos naquele ambiente, esperando que um bar de boa black music com algumas das pessoas mais interessantes da cidade abrisse. No boteco da frente, continuei a conversa, já em outro tema, como sempre.
– Me pergunto, XY8: em sua opinião, o artista pode pensar não apenas por sínteses e analogias, mas também por análise, como seus colegas cientistas e filósofos?
– Penso que não. A análise só pode dar como resultado o que já está contido no objeto, o que, como todos sabem, impossibilita qualquer descoberta de algo que esteja fora dele. O que um poeta iria querer com isso?
– Exato! A síntese, ao contrário, pode fazer surgir algo que não estava contido completamente na coisa analisada. Os poetas têm a metáfora como instrumento. Pela comparação, pelo transporte, pelas relações estranhas entre objetos e palavras chegam, às vezes, a esse resultado a que chamam de arte.
XY8 comentou:
– Como sempre queres dizer que as relações analíticas são mais prosaicas que as sintéticas, e que eu como produto da ciência não sou poesia, como tu, que és humano...
– Ora, isso não é óbvio? Mas não falava disso. Quero dizer que a arte reside exatamente em poder fazer com símbolos um fio imaginário entre os objetos. Não parece haver outra forma de enxergar o poético do que renunciando, então, à comprometida análise, e saltando, no escuro, à espera de que exista algo entre as coisas, que só pode ser “pego”, “visto”, “ouvido”, “sentido” por essa ponte frágil. Instrumento como teia de aranha é a poesia, a apoderar o homem invisível, o universo invisível que supostamente existe entre os objetos. Ora, dirá: não se trata de uma irreverente metafísica, de um simples método de investigação que não dispensa o estranho, o resíduo, os ruídos e até as ilusões? Uma lógica precária? A aventura da arte seria, então, também, um salto de fé no abismo entre as coisas. Mas os poetas não se dariam por contentes com tão pouco, obviamente. Eles querem mais, querem ser deuses.
– Não percebes – ele sorriu – que é exatamente assim que, com nossa ilusão, com nossa cegueira, enxergamos, nós, os robôs? Erras, Guilherme. Ao artista não bastaria a ilha segura em que os cientistas tomam banho de sol nas pedras, vendo o mar se quebrar. Antes, o perigo, a instabilidade oferecida pela água crespa. A arte é um fio de aço estendido no precipício, sim. O artista está ali em cima. No íntimo não nega que não vê nada entre o vazio, nem mesmo a corda a seus pés, e que só o segura o medo de cair e não pegar nada. Ele é como nós, que enxergamos dígitos, talvez nem isso. Mas uma fé o sustenta para que não caia no vazio, lá embaixo. O artista é o que anda sobre as águas, o que dá passos no ar, o que, equilibrando-se sabe-se lá onde, faz aquilo funcionar: a ponte invisível entre as coisas, por onde ele, então, dá mais um passo, e outro e outro, até chegar, são, mas nunca salvo, do outro lado.
Pensei naquilo, atentando para a maneira como seus olhos brilhavam. Pareciam os de um profeta, um louco, ou mesmo um místico iludido por sua própria arte de ilusionista... Olhos de robô, que não vêem nada, nada, os de XY8... Deu-me uma pena.
- Você me vê, mas não me vê, entende, XY?
Ele não respondeu, acho que um tanto magoado. Olhou-me de um jeito que fez me sentir rasgado por uma serra. Ergueu o braço para pedir outra Polar. A noite de primavera estava agradável para uma conversa. As mesas, na rua da República, apinhadas de gente que sorria, bebia e trocava olhares com os habitantes das ilhas de metal mais próximas. Retomei, ante o bocejo de XY8:
– A questão é que, na verdade, vocês são completamente cegos, por mais que possam identificar formas e movimentos em seus mais delicados detalhes, com mais precisão até do que nós. Mesmo vendo, não vêem. Mais do que isso. Olha! Vocês não enxergam nem mesmo os tais números que existem aí dentro de suas cabeças! Como veriam, se não existe nada entre vocês e as coisas? E sabe por que digo isso? Pelo simples fato de que vocês, afinal, também são coisas. Se nós, os humanos, atribuímos a objetos de fios e placas de metal algumas sensações que temos, só pode ser por certo desespero, angústia por estarmos sós no universo. Não acha?
Ele concordou, com a cabeça. Ainda mudo, no entanto, enfiou mais três botõezinhos de amendoim na boca e limpou as cascas que caíram sobre o colo. Tomei novo gole de Polar. Então, continuei, mudando um pouco o foco do assunto, que não parecia ser muito de seu agrado. E eu sei quando começo a ser chato.
– Você, que gosta de poesia, XY. Penso que pelo menos um tipo de poesia não passa, tal qual a filosofia, de uma técnica retórica de se referir às evidências de modo avesso, de maneira reversa, cuja principal ilusão é ver dotadas de vida coisas que não são. E a filosofia tem esse mesmo desejo, mas não a mesma coragem.
Foi então que XY8 interrompeu, com sua voz rouca, pausada. Fiquei feliz por ver que ele queria falar:
– Máquinas e pontes, estradas e janelas, rios e estrelas, fábricas e calçadas, muitas vezes vi-as se moverem por meio de figuras de linguagem, que imaginei serem o centro da poesia. Confesso que, por pouco, a vaidade não me fez ver resolvidos todos os enigmas, via literatura, não fosse o problema crucial de que as palavras, infelizmente, não são as coisas. Que tudo o que se fala é apenas aquilo que se fala, que não há relação do que é dito com os objetos, como imagina, por exemplo, a iludida filosofia. Não é isso o que queria dizer?
– Exatamente. Exatamente. E nessas mesmas palavras...
– Não te parece, então – ele retomou - que o problema de vocês seja o inverso do nosso, o que os envolve em idêntica cegueira? Vocês são apenas sujeito; sua ponte com o objeto está quebrada. E tudo o que olham leva-os, por isso, a inevitáveis ilusões. Só podem enxergar por dentro do olho de vocês. Como saber se chegam, de fato, às coisas reais aqui fora? As cores, por exemplo... Como pode dizer que elas são o que são fora de ti, Guilherme? Vemos números? Nem mesmo isso? Sim, e daí? Vocês parecem ver algo que está apenas dentro de vocês, mas não nas coisas. Para nós só existem coisas, para vocês, só vocês.
Meu amigo robô é, de fato, uma grande companhia. Fantasma cibernético da Cidade Baixa, o encontro de vez em quando rodando de bar em bar pelas belas ruas do bairro, à procura de bons lugares para beber, conversar e se chatear o mínimo possível. E há lugares realmente legais. A República é um deles, a Lima e Silva, aquela coisa, que vai se transformando num mar de gente de gosto cada vez mais duvidoso à medida que se aproxima da Perimetral. Mas há ruazinhas e bares escondidos, legais e distantes da turba.
De vez em quando tem shows de jazz, inclusive, mas o interessante, mesmo, é a confluência das esquinas mais estranhas de Porto Alegre. Gosto até da pior delas. Uma, na José do Patroncínio, junta, um de frente para outro, bares de metaleiros, surfistas, playboys, funkeiros, pagodeiros, rockers etc, num espaço de menos de 100 metros. Um mergulho ou outro nesses ambientes é legal, mas nada mais que uma boa meia hora e já se começa a sentir o cheiro da puerilidade, do prosaísmo, que exala mais forte que a fragrância dos perfumes baratos.
Entretanto, como costuma acontecer, eu e XY8 já tínhamos pago a conta e perambulado por outros bares, tentando reconhecer algum amigo no meio da massa. Acabamos pulando como dois sapos naquele ambiente, esperando que um bar de boa black music com algumas das pessoas mais interessantes da cidade abrisse. No boteco da frente, continuei a conversa, já em outro tema, como sempre.
– Me pergunto, XY8: em sua opinião, o artista pode pensar não apenas por sínteses e analogias, mas também por análise, como seus colegas cientistas e filósofos?
– Penso que não. A análise só pode dar como resultado o que já está contido no objeto, o que, como todos sabem, impossibilita qualquer descoberta de algo que esteja fora dele. O que um poeta iria querer com isso?
– Exato! A síntese, ao contrário, pode fazer surgir algo que não estava contido completamente na coisa analisada. Os poetas têm a metáfora como instrumento. Pela comparação, pelo transporte, pelas relações estranhas entre objetos e palavras chegam, às vezes, a esse resultado a que chamam de arte.
XY8 comentou:
– Como sempre queres dizer que as relações analíticas são mais prosaicas que as sintéticas, e que eu como produto da ciência não sou poesia, como tu, que és humano...
– Ora, isso não é óbvio? Mas não falava disso. Quero dizer que a arte reside exatamente em poder fazer com símbolos um fio imaginário entre os objetos. Não parece haver outra forma de enxergar o poético do que renunciando, então, à comprometida análise, e saltando, no escuro, à espera de que exista algo entre as coisas, que só pode ser “pego”, “visto”, “ouvido”, “sentido” por essa ponte frágil. Instrumento como teia de aranha é a poesia, a apoderar o homem invisível, o universo invisível que supostamente existe entre os objetos. Ora, dirá: não se trata de uma irreverente metafísica, de um simples método de investigação que não dispensa o estranho, o resíduo, os ruídos e até as ilusões? Uma lógica precária? A aventura da arte seria, então, também, um salto de fé no abismo entre as coisas. Mas os poetas não se dariam por contentes com tão pouco, obviamente. Eles querem mais, querem ser deuses.
– Não percebes – ele sorriu – que é exatamente assim que, com nossa ilusão, com nossa cegueira, enxergamos, nós, os robôs? Erras, Guilherme. Ao artista não bastaria a ilha segura em que os cientistas tomam banho de sol nas pedras, vendo o mar se quebrar. Antes, o perigo, a instabilidade oferecida pela água crespa. A arte é um fio de aço estendido no precipício, sim. O artista está ali em cima. No íntimo não nega que não vê nada entre o vazio, nem mesmo a corda a seus pés, e que só o segura o medo de cair e não pegar nada. Ele é como nós, que enxergamos dígitos, talvez nem isso. Mas uma fé o sustenta para que não caia no vazio, lá embaixo. O artista é o que anda sobre as águas, o que dá passos no ar, o que, equilibrando-se sabe-se lá onde, faz aquilo funcionar: a ponte invisível entre as coisas, por onde ele, então, dá mais um passo, e outro e outro, até chegar, são, mas nunca salvo, do outro lado.
Pensei naquilo, atentando para a maneira como seus olhos brilhavam. Pareciam os de um profeta, um louco, ou mesmo um místico iludido por sua própria arte de ilusionista... Olhos de robô, que não vêem nada, nada, os de XY8... Deu-me uma pena.
Palestras de caras bacanas

Mediar palestras de caras bacanas, sobre temas bacanas. Taí uma das coisas que mais gosto de fazer na vida! Foi assim a boa conversa com o jornalista Antonio Martins no final de junho, durante a 25 Feira do Livro de Canoas, no La Salle. No cardápio, o filé mignon de sempre: jornalismo independente, Fórum Social Mundial, altermundismo de toda a ordem, tudo via a clareza de idéias do Antonio.
Há dez anos, estávamos lá na primeira Ciranda Internacional da Informação Independente, no primeiro FSM, em Porto Alegre. Eu, com um pouco mais de cabelo. Antonio um pouco menos grisalho. Ambos tão interessados no tema como hoje. E amanhã, certamente.
MV Bill

A foto acima rolou dia 26 de junho, quando o muito gente boa MV Bill esteve em Canoas para atividades da Central Única das Favelas , a Cufa. Esporte e cultura para uma política de segurança para muito além da eliminação do inimigo, do outro etc. Na foto, o Jairo Jorge, instantes antes de tentar uns arremessos de basquete de rua. Bateu na trave. O show do Bill é que foi um golaço. Ou uma ponte aérea bem feita, para mais de 30 mil pessoas no Parque Esportivo Eduardo Gomes. Suas letras, socos bem dados em estômagos necessitados. Pareciam abrir os olhos, como que com os dedos - diria o Paulo Hecker Filho. O maravilhoso Paulo Hecker Filho.
quarta-feira, 5 de agosto de 2009
Enrevista com Roa Bastos
O escritor paraguaio Augusto Roa Bastos morreu no dia 26 de abril de 2005, aos 87 anos, 50 dos quais passou longe de seu país natal. Nascido em 13 de junho de 1917, em Assunção, capital do Paraguai, Roa Bastos esteve, entre outros períodos, todo o tempo do regime militar de Alfredo Stroessner (que governou o país entre 1954 e 1989) no exílio. Roa Bastos foi vencedor do Prêmio Cervantes em 1989, o mais importante prêmio literário da língua espanhola. Um dos maiores críticos das ditaduras latino-americanas do século XX, escreveu, sobre o tema, o clássico Eu, o supremo, inspirado em Dom Quixote, de Cervantes. Em 2003, Roa Bastos concedeu uma longa entrevista a mim, auxiliado pelo escritor argentino Alejandro Maciel. O material permanecia inédito até aquela data.
Jéferson Assumção – Fale um pouco sobre o início de sua vida com a literatura... Como e quando o senhor começou a escrever?
Augusto Roa Bastos – Comecei a escrever quando tinha 11 ou 12 anos. Venho de uma família humilde, mas por uma situação fortuita estava em um colégio privado, o mais prestigioso de Assunção naquele tempo. Eu tinha um tio, um tal senhor Roa, que havia ajudado uns padres a instalarem-se no Paraguai, e estes, que dirigiam o Colégio San José, em retribuição, deram bolsas de estudos aos sobrinhos do senhor Roa, com vagas no colégio para terminar seus estudos. Eu fui um dos bolsistas de San José, por obra e graça de meu tio. E como se pode imaginar, a maioria de meus companheiros era de classe alta. Alguns, muito bagunceiros. E cada vez que cometiam uma infração, os curas impunham a eles, como penitência, escrever uma composição sobre algum tema. Meu companheiro de banco era um desses e tinha o costume de levar uns queijinhos para a sala de aula, que desprendiam um delicioso aroma no meio da manhã quando meu estômago pedia, a gritos, alguma coisa. E como era muito indisciplinado, em duas ou três ocasiões eu sentia pena dele e me oferecia para escrever em troca de um queijinho por página. Geralmente eram variações sobre leituras que nos proporcionavam na sala.
JA – O senhor fala dessa sua situação particular, em termos de restrição econômica... A situação econômica dos países latino-americanos afeta o trabalho do escritor, nesta parte do planeta?
Roa Bastos – A crise econômica afeta tudo. O trabalho literário, porque dificulta a publicação e, sem o editor, o autor permanece escondido. Isso se vê aqui (no Paraguai). Há muita gente que não tem possibilidades de ver seu livro na rua. Além disso, o trabalho intelectual está muito desvalorizado. Os jornais não pagam as colaborações aos escritores, por exemplo. Então, tudo se torna amador, o que é uma forma de achatamento que não estimula o crescimento. E tudo é um grande problema: o livro custa caro no Paraguai, as pessoas não podem conseguir um livro facilmente, há poucas bibliotecas públicas, isso desanima o gosto pela leitura, e os poucos que tratamos de reverter a situação nos encontramos como Dom Quixote, lutando contra os moinhos, o vento, o caminho e tudo mais. Por outra parte, o Paraguai vem diretamente de uma cultura oral. Ler já é outra dimensão, e escrever nem te conto! Custa muito às pessoas expressarem-se pela escrita ou receber uma mensagem através de um longo escrito.
JA – O senhor tem uma história muito próxima à história do Paraguai. Participou da Revolução de 1928 e trabalhou como voluntário na Guerra do Chaco (1932-1935). O que representa para o senhor toda essa proximidade com fatos importantes para o seu país?
Roa Bastos – Alistei-me como voluntário na Guerra do Chaco, um pouco atraído pela lenda de ouro do herói que volta vitorioso e todo o fundo épico que têm as guerras e batalhas. No entanto, não me deram espadas nem fuzis. Deixaram-me na retaguarda a cuidar de aspectos mais prosaicos que a luta armada. Servi na enfermaria, outras vezes ajudávamos a enterrar os cadáveres; enfim, essas tarefas de limpeza que necessariamente alguém tem que fazer em um exército. Vi muita dor, entre os feridos e entre os que feriam. Nenhuma guerra ensina nada de bom, mas resgato algo de toda essa dolorosa experiência coletiva: aprendi a valorizar a coragem dos paraguaios e, além disso, observei que o paraguaio, nos momentos limites, é solidário como ninguém. Alguns dos feridos se privavam de tomar água (o Chaco é muito árido e seco) para deixar que seu vizinho que estava delirando de febre em uma cama ao lado pudesse tomar esse jarro de água que ele também necessitava e, no entanto, pela dor do outro, tinha que renunciar. A água era vital, creio que a Guerra do Chaco foi a primeira guerra pela água nesta região. E então, que alguém renuncie a sua ração para ajudar a outro que está em piores condições, se transforma em um ato heróico. Ali vi o verdadeiro heroísmo. Essas coisas nos fazem crer de novo na grandeza da alma humana, ainda em meio das piores misérias. Por outro lado, no Paraguai se sucederam mais de 15 ou 20 “revoluções” que não eram mais que revoltas entre dois partidos tradicionais e os militares no meio. O resultado que nos deixaram é um povo debilitado pela violência e os privilégios de classes. Não acredito que tenham servido para nada tantos golpes de Estado. Claro que tanto a Guerra do Chaco como a Guerra Grande (que tomamos como marco para escrever O livro da Guerra Grande, sobre a Guerra do Paraguai – editora Record) têm sido acontecimentos importantes para a história do Paraguai e, em outra dimensão, como parte da infausta história americana.
JA – Como é fazer literatura num lugar como a América Latina? Há alguma especificidade na ficção feita aqui? Qual é a diferença em relação ao que se faz em outros lugares do mundo? Com isso quero dizer: existe uma literatura latino-americana? Qual o fio que une tantas (e boas) diferenças culturais que existem em nosso grande continente?
Roa Bastos – Fazer literatura é difícil em qualquer lugar. Não se esqueça das perseguições sistemáticas tanto nos governos de corte fascista como no stalinismo com suas “purgas” e as prisões na Sibéria. Não esqueçamos G. Bruno e Miguel Servet que caíram nas mãos da Inquisição por promulgar suas idéias, frutos de suas investigações no caso de Servet. O homem não se cansa de perseguir o homem. A imposição de uma idéia he-gemônica é o sonho dourado dos ditadores porque lhes dá tranqüilidade de consciência. “Se todos pensam como eu, não devo estar equivocado” é o raciocínio em que se apóiam como se a verdade fosse estatística e dependesse de que a defendam dez, cem ou mil ao mesmo tempo. Mais de dez séculos vivemos equivocados pensando que a Terra fosse o centro do Universo, até que belo dia Copérnico nos mostrou uns cálculos que não fechavam. E assim despertamos lentamente de dez séculos de nos crermos como o centro da criação. E fazer literatura na América Latina não é mais fácil. Aqui as instituições que deveriam estar a serviço da sociedade passam zelando pelos interesses do governo. Em muitos casos, a justiça é apenas uma noção vazia. E então, os que levantam a voz são imediatamente estigmatizados, convertendo-se em bode expiatório de qualquer governo que necessite afirmar seu poder. Percebo que a exposição (me agrada mais esse termo que a palavra “denúncia”, que nos converte em delatores) dos vícios do poder tem sido uma constante na literatura da A.L., mais que em outros lugares. Já desde Azuela com Los de abajo se abre o ciclo da novela centrada nas relações com o poder absoluto; neste caso, com a Revolução Mexicana. E boa parte da literatura do chamado boom tem exposto as difíceis relações do continente com o poder. Esse pode ser o tema comum que serve como eixo vertebral às distintas vozes que compõem a linguagem da narrativa na A.L. Certamente, existe uma literatura latino-americana. Pensamos no itinerário que vai de Borges, Rulfo, Uslar Pietri, Asturias, Augusto Monterroso, Carlos Fuente, García Márquez, Mutis, César Vallejos, Neruda, Gabriela Mistral, João Guimarães Rosa, Icaza, Arguedas, Lezama Lima, Cortázar, Bioy Casares, Sábato, Ciro Alegría, nossa Josefina Plá que, mesmo nascida espanhola, assumiu o Paraguai como próprio. É impossível ignorar a riqueza de toda esta escrita sem vinculá-la diretamente à história do continente.
JA – Antônio Skármeta refere-se em um texto à sombra terrível de Borges, que assombraria os latino-americanos. Isso existe? Qual é o escritor latino-americano mais influente na América Latina? E em sua obra?
Roa Bastos – Se a sentença é verdadeira, o juízo é fatal. Toda arte é imitação e é inútil escapar de uma sombra como a de Borges. É inexorável. Mas eu acho que a influência de Borges é mais de fundo que de forma. Certamente, ali estão esses magníficos giros de linguagem, mas isso está na superfície. E, por sorte, nós escritores gostamos muito mais de reler que ler Borges. Então, essa ornamentação formal vai dando lugar ao verdadeiro problema que nos traz toda a imensa e inesgotável obra de Borges. As grandes respostas que levam às últimas perguntas. Este questionar continuamente ao espelhismo que confundimos com a realidade. Por isso, sempre digo que esta influência de Borges (como toda grande influência) tem seus prós e seus contras. Ao mesmo tempo, sempre saímos ganhando da escola de Borges. Com relação à influência, acho que Borges e Rulfo são os mais influentes para os que fazem literatura na América Latina. Desgraçadamente conhecemos muito pouco da literatura do Brasil. Na verdade, conhecemos muito pouco do Brasil todo. Como dizia o genial Guimarães Rosa (a quem conheci casualmente em uma viagem de avião), “somos como gêmeos unidos pelas costas, que nunca olharam no rosto um do outro”; a América hispânica e a lusitana. Como dois irmãos grudados pelas costas que jamais se viram nem se reconheceram. Preste atenção que esta imagem é terrível. Muito mais ameaçadora que a “sombra” de Borges em quem eu jamais vi sombras, mas unicamente a vivíssima luz de sua inteligência criadora. Mas esta espécie de fatalismo entre os dois mundos da América Latina, o imenso Brasil (quase um continente) por um lado e a hispano-américa por outro, sem poder ver um ao outro, ou seja, sem reconhecer-se. Vejo com felicidade que lentamente se estejam dando os passos para nos aproximarmos. E é natural compartilharmos os mesmos problemas. Interessamo-nos mutuamente. Eu gostaria muito de ver uma publicação de autores da região, poderia começar sendo um volume de contos de autores de Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Seria uma linda idéia. Quando escrevemos O livro da Guerra Grande (com Alejandro Maciel), tive este especial interesse de reunir autores de quatro nações que estiveram enfrentadas até a morte em uma guerra espantosa. E agora, por outro lado, produzem um livro. É um avanção, não? Com relação à influência em minha obra, se é deliberada (coisa que duvido), acho que deveria mencionar Melville, Cervantes e Shakespea-re, a quem devo algumas cotas do que depois, bem ou mal, cheguei a escrever. Há outro autor que não quero deixar de lembrar: o anarquista Rafael Barret, que escreveu uma obra genial: El dolor paraguayo. Fez-me ver a fundo algumas coisas que eu apenas percebia na superfície. Josefina Plá me ensinou a ser crítico comigo mesmo. Isso é saudável.
JA – Perseguido por ditaduras, o senhor teve que viver muitos anos fora de seu país, inclusive dando aulas na Europa. O mesmo acabou acontecendo com diversos artistas brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, etc. É uma história de enfrentamento de ditaduras e de resistência, que moldou a atividade de diversos escritores latino-americanos, inclusive do senhor. Essa experiência é valorizada, hoje, e passa para gerações mais novas de escritores?
Roa Bastos – Efetivamente, o escritor no exílio é uma constante na história do século XX na América do Sul. Empurrados pelas ditaduras, muitos tivemos que sobreviver em países estranhos, sem grandes possibilidades, já que nem sequer (muitos de nós) tivemos tempo de terminar nossos estudos. Além disso, longe da família, dos amigos, de nossa terra. Totalmente desarraigados e com saudade contínua do solo de onde fomos desalojados, nosso Paraíso Terreno de onde nos expulsou a serpente. Tive a sorte de ser bem recebido na Argentina, que sempre foi um país generoso com os paraguaios. Mas tive que trabalhar muitíssimo, às vezes em três empregos ao mesmo tempo. E, nestas condições, escrever fica muito difícil, porque tantas tarefas diferentes dispersam nossa capacidade. Eu trabalhava de manhã em uma companhia de seguros, em tarefas administrativas, de tarde na editora musical “Lagos” de Buenos Aires (onde traduzia letras de canções brasileiras para o espanhol) e, depois, na redação do jornal Clarín. Saía moído de cansaço. E depois tinha que tentar encontrar um momento de tranqüilidade e continuar um conto ou uma novela. E assim saiu Hijo de hombre e depois Yo, el supremo, que levou cinco anos, mas assim, trabalhando fragmentariamente. A experiência do exílio é amarga. Espero que os escritores atuais não tenham que passar por isso. E sobre o que você pergunta, se ficou alguma lição de tudo isso, acredito que sim, que eles têm consciência clara deste risco do exílio quando cada qual assume sua responsabilidade coletiva frente aos poderes onipotentes, que ao final são gigantes com os pés de barro. E também espero que tenha servido para fomentar a tolerância de idéias. Tomara que nunca mais tenhamos exilados. Nem censurados, nem perseguidos, nem jornalistas comprados por empresários corruptos... Tomara que pouco a pouco tudo isso passe para os museus.
JA – A preocupação com as questões sociais é dever do escritor ou ele só deve respostas e atenções à sua arte?
Roa Bastos – Penso que a literatura é um ofício humano, e sei que todos nós temos responsabilidades cívicas. Não creio na famosa torre de marfim, tampouco sou partidário de uma literatura panfletária a serviço de tal ou qual partido ou líder. A literatura pode ser um excelente instrumento para debater idéias, não caudilhos ou personalismos. Se há aberrações que denunciar, denunciemos os fatos. A justiça se encarregará dos culpados. Se a justiça é suspeita, denunciemos a justiça. Mas se um ser humano comum não pode renunciar a suas responsabilidades cívicas, o escritor menos que ninguém. Ao contrário, ao tomar mais facilmente consciência dos fatos, inexoravelmente está unido a eles e não pode renunciar a essa visão que aparecerá em suas obras de uma forma ou outra.
JA – Como o escritor pode contribuir para que nossas populações tenham melhor compreensão do que está acontecendo?
Roa Bastos – Simplesmente saindo de sua clausura individualista (ao que somos inclinados, os escritores, por outro lado) e aliando seu trabalho criativo com a docência social. O autismo da torre de marfim não serve nem sequer ao artista. Cria uma arte que está demasiadamente distante da realidade, em um céu platônico onde todas as coisas são ideais; mas vivemos na realidade. Aqui, precisamos preconizar e reclamar a justiça social, a não exploração do homem pelo homem, a não escravização ao outro, nem usá-lo como instrumento. Despertar consciências é uma forma excelente de fazer docência social. Não digo dar aulas com quadro negro, giz e voz de sermão. Não faz falta nada disso. Na escritura verdadeira sempre aparecem os símbolos da visão da realidade que tem todo o autor, sempre que o escritor estiver sinceramente interessado na realidade. Perceba o poder que tem um conto bem escrito. É uma peça mínima se comparado com tudo o que normalmente lemos no dia, mas nessa condensação pode estar uma reformulação de todo o processo de leitura de nosso redor. Suponhamos que o protagonista esteja mergulhado na mesma crise que está todo o resto das pessoas. Encurvado pelos crescentes problemas econômicos e sociais. E de pronto, no conto, tudo isso passa a um plano secundário, e o indivíduo, procurando em suas verdadeiras motivações, encontra a chave da arapuca. E busca uma saída original para um problema que até esse dia o veríamos como algo insolúvel. O efeito do contágio que pode ter este material é extraordinário. Não há cinema ou televisão que tenha a capacidade de nos conectar com a nossa intimidade como o faz a leitura. Primeiro, porque nos obriga a estar sós. Segundo, porque precisamos procurar certa tranqüilidade de ânimo. Terceiro, vinculamos mais facilmente o que estamos aprendendo com o que já sabemos porque não há “distraidores” de imagens sobre imagens como em um videoclipe que não nos deixa pensar. Todas essas vantagens vão em favor da leitura. Os demais meios são, simplesmente, complementos. Complementos geniais às vezes, mas a mão-mestre só quem tem é a literatura. Esse hábito maravilhoso fez a civilização. Mas se o escritor, no meio de uma crise, a evita ou faz com que ela não exista e se põe a escrever odes às pétalas das rosas, é provável que não encontre muito eco. A sociedade não está pensando em pétalas, mas nos problemas que a incomodam.
JA – Que função tem o escritor em um mundo caminhando para a barbárie? É possível escrever, hoje, sem que a literatura não seja manchada pelos temas do nosso tempo?
Roa Bastos – Bom, creio que a literatura, como toda arte, assume um dever, talvez inconsciente, mas é um dever: a necessidade de servir ao outro. E servir quer dizer estar em atitude de entrega, oferecendo. Isso cria laços solidários que estão conspirando justamente contra a cadeia de barbarização que não reconhece valores deste tipo. A materialização e a desumanização coletivas sempre tiveram vai-e-vens. Acho que estamos nos preocupando demais e espero que logo os sintomas desta forma da decadência humana se apaguem, buscando novas maneiras de participação social, de formar parte da trama de decisões, e não como simples espectadores do que ocorre na sociedade. E isso já está acontecendo. As pessoas reagem e se unem, como aconteceu na Argentina. Essa participação já é, em princípio, solidariedade. É preciso dar-lhe mais tempo. Pensemos que se a sociedade começa com mais de um (dois já são um germe de comunidade, porque nada do que um faça deixará de afetar ou beneficiar o outro), ambos têm deveres. E, neste sentido, a educação para a participação tem que ser chave. Viemos de uma educação bastante individualista e isso não nos ajuda para nada. Pense que um só homem não é nada frente o universo. Está bem defender o próprio, o modo particular de cada pessoa se expressar no mundo, mas não ficar apenas ali. Temos que saltar essa barreira autista e saber escutar e comunicar-se com o amplo, fascinante e ao mesmo tempo complicado mundo contemporâneo. E, para isto, o escritor é o guia mais autêntico para nos acompanhar nos caminhos intrincados da alma humana. Pense no Dante, que deve atravessar ou ir além, e entra no Inferno acompanhado de Virgilio, o escritor que mais admirava. E Virgilio é o anfitrião, mas ao mesmo tempo é quem revela os segredos daquelas profundidades. Essas almas torturadas que são o reflexo dos mais humanos, tudo isto o revela um escritor, não Deus, a quem Dante somente vê ao fim do caminho.
Jéferson Assumção – Fale um pouco sobre o início de sua vida com a literatura... Como e quando o senhor começou a escrever?
Augusto Roa Bastos – Comecei a escrever quando tinha 11 ou 12 anos. Venho de uma família humilde, mas por uma situação fortuita estava em um colégio privado, o mais prestigioso de Assunção naquele tempo. Eu tinha um tio, um tal senhor Roa, que havia ajudado uns padres a instalarem-se no Paraguai, e estes, que dirigiam o Colégio San José, em retribuição, deram bolsas de estudos aos sobrinhos do senhor Roa, com vagas no colégio para terminar seus estudos. Eu fui um dos bolsistas de San José, por obra e graça de meu tio. E como se pode imaginar, a maioria de meus companheiros era de classe alta. Alguns, muito bagunceiros. E cada vez que cometiam uma infração, os curas impunham a eles, como penitência, escrever uma composição sobre algum tema. Meu companheiro de banco era um desses e tinha o costume de levar uns queijinhos para a sala de aula, que desprendiam um delicioso aroma no meio da manhã quando meu estômago pedia, a gritos, alguma coisa. E como era muito indisciplinado, em duas ou três ocasiões eu sentia pena dele e me oferecia para escrever em troca de um queijinho por página. Geralmente eram variações sobre leituras que nos proporcionavam na sala.
JA – O senhor fala dessa sua situação particular, em termos de restrição econômica... A situação econômica dos países latino-americanos afeta o trabalho do escritor, nesta parte do planeta?
Roa Bastos – A crise econômica afeta tudo. O trabalho literário, porque dificulta a publicação e, sem o editor, o autor permanece escondido. Isso se vê aqui (no Paraguai). Há muita gente que não tem possibilidades de ver seu livro na rua. Além disso, o trabalho intelectual está muito desvalorizado. Os jornais não pagam as colaborações aos escritores, por exemplo. Então, tudo se torna amador, o que é uma forma de achatamento que não estimula o crescimento. E tudo é um grande problema: o livro custa caro no Paraguai, as pessoas não podem conseguir um livro facilmente, há poucas bibliotecas públicas, isso desanima o gosto pela leitura, e os poucos que tratamos de reverter a situação nos encontramos como Dom Quixote, lutando contra os moinhos, o vento, o caminho e tudo mais. Por outra parte, o Paraguai vem diretamente de uma cultura oral. Ler já é outra dimensão, e escrever nem te conto! Custa muito às pessoas expressarem-se pela escrita ou receber uma mensagem através de um longo escrito.
JA – O senhor tem uma história muito próxima à história do Paraguai. Participou da Revolução de 1928 e trabalhou como voluntário na Guerra do Chaco (1932-1935). O que representa para o senhor toda essa proximidade com fatos importantes para o seu país?
Roa Bastos – Alistei-me como voluntário na Guerra do Chaco, um pouco atraído pela lenda de ouro do herói que volta vitorioso e todo o fundo épico que têm as guerras e batalhas. No entanto, não me deram espadas nem fuzis. Deixaram-me na retaguarda a cuidar de aspectos mais prosaicos que a luta armada. Servi na enfermaria, outras vezes ajudávamos a enterrar os cadáveres; enfim, essas tarefas de limpeza que necessariamente alguém tem que fazer em um exército. Vi muita dor, entre os feridos e entre os que feriam. Nenhuma guerra ensina nada de bom, mas resgato algo de toda essa dolorosa experiência coletiva: aprendi a valorizar a coragem dos paraguaios e, além disso, observei que o paraguaio, nos momentos limites, é solidário como ninguém. Alguns dos feridos se privavam de tomar água (o Chaco é muito árido e seco) para deixar que seu vizinho que estava delirando de febre em uma cama ao lado pudesse tomar esse jarro de água que ele também necessitava e, no entanto, pela dor do outro, tinha que renunciar. A água era vital, creio que a Guerra do Chaco foi a primeira guerra pela água nesta região. E então, que alguém renuncie a sua ração para ajudar a outro que está em piores condições, se transforma em um ato heróico. Ali vi o verdadeiro heroísmo. Essas coisas nos fazem crer de novo na grandeza da alma humana, ainda em meio das piores misérias. Por outro lado, no Paraguai se sucederam mais de 15 ou 20 “revoluções” que não eram mais que revoltas entre dois partidos tradicionais e os militares no meio. O resultado que nos deixaram é um povo debilitado pela violência e os privilégios de classes. Não acredito que tenham servido para nada tantos golpes de Estado. Claro que tanto a Guerra do Chaco como a Guerra Grande (que tomamos como marco para escrever O livro da Guerra Grande, sobre a Guerra do Paraguai – editora Record) têm sido acontecimentos importantes para a história do Paraguai e, em outra dimensão, como parte da infausta história americana.
JA – Como é fazer literatura num lugar como a América Latina? Há alguma especificidade na ficção feita aqui? Qual é a diferença em relação ao que se faz em outros lugares do mundo? Com isso quero dizer: existe uma literatura latino-americana? Qual o fio que une tantas (e boas) diferenças culturais que existem em nosso grande continente?
Roa Bastos – Fazer literatura é difícil em qualquer lugar. Não se esqueça das perseguições sistemáticas tanto nos governos de corte fascista como no stalinismo com suas “purgas” e as prisões na Sibéria. Não esqueçamos G. Bruno e Miguel Servet que caíram nas mãos da Inquisição por promulgar suas idéias, frutos de suas investigações no caso de Servet. O homem não se cansa de perseguir o homem. A imposição de uma idéia he-gemônica é o sonho dourado dos ditadores porque lhes dá tranqüilidade de consciência. “Se todos pensam como eu, não devo estar equivocado” é o raciocínio em que se apóiam como se a verdade fosse estatística e dependesse de que a defendam dez, cem ou mil ao mesmo tempo. Mais de dez séculos vivemos equivocados pensando que a Terra fosse o centro do Universo, até que belo dia Copérnico nos mostrou uns cálculos que não fechavam. E assim despertamos lentamente de dez séculos de nos crermos como o centro da criação. E fazer literatura na América Latina não é mais fácil. Aqui as instituições que deveriam estar a serviço da sociedade passam zelando pelos interesses do governo. Em muitos casos, a justiça é apenas uma noção vazia. E então, os que levantam a voz são imediatamente estigmatizados, convertendo-se em bode expiatório de qualquer governo que necessite afirmar seu poder. Percebo que a exposição (me agrada mais esse termo que a palavra “denúncia”, que nos converte em delatores) dos vícios do poder tem sido uma constante na literatura da A.L., mais que em outros lugares. Já desde Azuela com Los de abajo se abre o ciclo da novela centrada nas relações com o poder absoluto; neste caso, com a Revolução Mexicana. E boa parte da literatura do chamado boom tem exposto as difíceis relações do continente com o poder. Esse pode ser o tema comum que serve como eixo vertebral às distintas vozes que compõem a linguagem da narrativa na A.L. Certamente, existe uma literatura latino-americana. Pensamos no itinerário que vai de Borges, Rulfo, Uslar Pietri, Asturias, Augusto Monterroso, Carlos Fuente, García Márquez, Mutis, César Vallejos, Neruda, Gabriela Mistral, João Guimarães Rosa, Icaza, Arguedas, Lezama Lima, Cortázar, Bioy Casares, Sábato, Ciro Alegría, nossa Josefina Plá que, mesmo nascida espanhola, assumiu o Paraguai como próprio. É impossível ignorar a riqueza de toda esta escrita sem vinculá-la diretamente à história do continente.
JA – Antônio Skármeta refere-se em um texto à sombra terrível de Borges, que assombraria os latino-americanos. Isso existe? Qual é o escritor latino-americano mais influente na América Latina? E em sua obra?
Roa Bastos – Se a sentença é verdadeira, o juízo é fatal. Toda arte é imitação e é inútil escapar de uma sombra como a de Borges. É inexorável. Mas eu acho que a influência de Borges é mais de fundo que de forma. Certamente, ali estão esses magníficos giros de linguagem, mas isso está na superfície. E, por sorte, nós escritores gostamos muito mais de reler que ler Borges. Então, essa ornamentação formal vai dando lugar ao verdadeiro problema que nos traz toda a imensa e inesgotável obra de Borges. As grandes respostas que levam às últimas perguntas. Este questionar continuamente ao espelhismo que confundimos com a realidade. Por isso, sempre digo que esta influência de Borges (como toda grande influência) tem seus prós e seus contras. Ao mesmo tempo, sempre saímos ganhando da escola de Borges. Com relação à influência, acho que Borges e Rulfo são os mais influentes para os que fazem literatura na América Latina. Desgraçadamente conhecemos muito pouco da literatura do Brasil. Na verdade, conhecemos muito pouco do Brasil todo. Como dizia o genial Guimarães Rosa (a quem conheci casualmente em uma viagem de avião), “somos como gêmeos unidos pelas costas, que nunca olharam no rosto um do outro”; a América hispânica e a lusitana. Como dois irmãos grudados pelas costas que jamais se viram nem se reconheceram. Preste atenção que esta imagem é terrível. Muito mais ameaçadora que a “sombra” de Borges em quem eu jamais vi sombras, mas unicamente a vivíssima luz de sua inteligência criadora. Mas esta espécie de fatalismo entre os dois mundos da América Latina, o imenso Brasil (quase um continente) por um lado e a hispano-américa por outro, sem poder ver um ao outro, ou seja, sem reconhecer-se. Vejo com felicidade que lentamente se estejam dando os passos para nos aproximarmos. E é natural compartilharmos os mesmos problemas. Interessamo-nos mutuamente. Eu gostaria muito de ver uma publicação de autores da região, poderia começar sendo um volume de contos de autores de Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Seria uma linda idéia. Quando escrevemos O livro da Guerra Grande (com Alejandro Maciel), tive este especial interesse de reunir autores de quatro nações que estiveram enfrentadas até a morte em uma guerra espantosa. E agora, por outro lado, produzem um livro. É um avanção, não? Com relação à influência em minha obra, se é deliberada (coisa que duvido), acho que deveria mencionar Melville, Cervantes e Shakespea-re, a quem devo algumas cotas do que depois, bem ou mal, cheguei a escrever. Há outro autor que não quero deixar de lembrar: o anarquista Rafael Barret, que escreveu uma obra genial: El dolor paraguayo. Fez-me ver a fundo algumas coisas que eu apenas percebia na superfície. Josefina Plá me ensinou a ser crítico comigo mesmo. Isso é saudável.
JA – Perseguido por ditaduras, o senhor teve que viver muitos anos fora de seu país, inclusive dando aulas na Europa. O mesmo acabou acontecendo com diversos artistas brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, etc. É uma história de enfrentamento de ditaduras e de resistência, que moldou a atividade de diversos escritores latino-americanos, inclusive do senhor. Essa experiência é valorizada, hoje, e passa para gerações mais novas de escritores?
Roa Bastos – Efetivamente, o escritor no exílio é uma constante na história do século XX na América do Sul. Empurrados pelas ditaduras, muitos tivemos que sobreviver em países estranhos, sem grandes possibilidades, já que nem sequer (muitos de nós) tivemos tempo de terminar nossos estudos. Além disso, longe da família, dos amigos, de nossa terra. Totalmente desarraigados e com saudade contínua do solo de onde fomos desalojados, nosso Paraíso Terreno de onde nos expulsou a serpente. Tive a sorte de ser bem recebido na Argentina, que sempre foi um país generoso com os paraguaios. Mas tive que trabalhar muitíssimo, às vezes em três empregos ao mesmo tempo. E, nestas condições, escrever fica muito difícil, porque tantas tarefas diferentes dispersam nossa capacidade. Eu trabalhava de manhã em uma companhia de seguros, em tarefas administrativas, de tarde na editora musical “Lagos” de Buenos Aires (onde traduzia letras de canções brasileiras para o espanhol) e, depois, na redação do jornal Clarín. Saía moído de cansaço. E depois tinha que tentar encontrar um momento de tranqüilidade e continuar um conto ou uma novela. E assim saiu Hijo de hombre e depois Yo, el supremo, que levou cinco anos, mas assim, trabalhando fragmentariamente. A experiência do exílio é amarga. Espero que os escritores atuais não tenham que passar por isso. E sobre o que você pergunta, se ficou alguma lição de tudo isso, acredito que sim, que eles têm consciência clara deste risco do exílio quando cada qual assume sua responsabilidade coletiva frente aos poderes onipotentes, que ao final são gigantes com os pés de barro. E também espero que tenha servido para fomentar a tolerância de idéias. Tomara que nunca mais tenhamos exilados. Nem censurados, nem perseguidos, nem jornalistas comprados por empresários corruptos... Tomara que pouco a pouco tudo isso passe para os museus.
JA – A preocupação com as questões sociais é dever do escritor ou ele só deve respostas e atenções à sua arte?
Roa Bastos – Penso que a literatura é um ofício humano, e sei que todos nós temos responsabilidades cívicas. Não creio na famosa torre de marfim, tampouco sou partidário de uma literatura panfletária a serviço de tal ou qual partido ou líder. A literatura pode ser um excelente instrumento para debater idéias, não caudilhos ou personalismos. Se há aberrações que denunciar, denunciemos os fatos. A justiça se encarregará dos culpados. Se a justiça é suspeita, denunciemos a justiça. Mas se um ser humano comum não pode renunciar a suas responsabilidades cívicas, o escritor menos que ninguém. Ao contrário, ao tomar mais facilmente consciência dos fatos, inexoravelmente está unido a eles e não pode renunciar a essa visão que aparecerá em suas obras de uma forma ou outra.
JA – Como o escritor pode contribuir para que nossas populações tenham melhor compreensão do que está acontecendo?
Roa Bastos – Simplesmente saindo de sua clausura individualista (ao que somos inclinados, os escritores, por outro lado) e aliando seu trabalho criativo com a docência social. O autismo da torre de marfim não serve nem sequer ao artista. Cria uma arte que está demasiadamente distante da realidade, em um céu platônico onde todas as coisas são ideais; mas vivemos na realidade. Aqui, precisamos preconizar e reclamar a justiça social, a não exploração do homem pelo homem, a não escravização ao outro, nem usá-lo como instrumento. Despertar consciências é uma forma excelente de fazer docência social. Não digo dar aulas com quadro negro, giz e voz de sermão. Não faz falta nada disso. Na escritura verdadeira sempre aparecem os símbolos da visão da realidade que tem todo o autor, sempre que o escritor estiver sinceramente interessado na realidade. Perceba o poder que tem um conto bem escrito. É uma peça mínima se comparado com tudo o que normalmente lemos no dia, mas nessa condensação pode estar uma reformulação de todo o processo de leitura de nosso redor. Suponhamos que o protagonista esteja mergulhado na mesma crise que está todo o resto das pessoas. Encurvado pelos crescentes problemas econômicos e sociais. E de pronto, no conto, tudo isso passa a um plano secundário, e o indivíduo, procurando em suas verdadeiras motivações, encontra a chave da arapuca. E busca uma saída original para um problema que até esse dia o veríamos como algo insolúvel. O efeito do contágio que pode ter este material é extraordinário. Não há cinema ou televisão que tenha a capacidade de nos conectar com a nossa intimidade como o faz a leitura. Primeiro, porque nos obriga a estar sós. Segundo, porque precisamos procurar certa tranqüilidade de ânimo. Terceiro, vinculamos mais facilmente o que estamos aprendendo com o que já sabemos porque não há “distraidores” de imagens sobre imagens como em um videoclipe que não nos deixa pensar. Todas essas vantagens vão em favor da leitura. Os demais meios são, simplesmente, complementos. Complementos geniais às vezes, mas a mão-mestre só quem tem é a literatura. Esse hábito maravilhoso fez a civilização. Mas se o escritor, no meio de uma crise, a evita ou faz com que ela não exista e se põe a escrever odes às pétalas das rosas, é provável que não encontre muito eco. A sociedade não está pensando em pétalas, mas nos problemas que a incomodam.
JA – Que função tem o escritor em um mundo caminhando para a barbárie? É possível escrever, hoje, sem que a literatura não seja manchada pelos temas do nosso tempo?
Roa Bastos – Bom, creio que a literatura, como toda arte, assume um dever, talvez inconsciente, mas é um dever: a necessidade de servir ao outro. E servir quer dizer estar em atitude de entrega, oferecendo. Isso cria laços solidários que estão conspirando justamente contra a cadeia de barbarização que não reconhece valores deste tipo. A materialização e a desumanização coletivas sempre tiveram vai-e-vens. Acho que estamos nos preocupando demais e espero que logo os sintomas desta forma da decadência humana se apaguem, buscando novas maneiras de participação social, de formar parte da trama de decisões, e não como simples espectadores do que ocorre na sociedade. E isso já está acontecendo. As pessoas reagem e se unem, como aconteceu na Argentina. Essa participação já é, em princípio, solidariedade. É preciso dar-lhe mais tempo. Pensemos que se a sociedade começa com mais de um (dois já são um germe de comunidade, porque nada do que um faça deixará de afetar ou beneficiar o outro), ambos têm deveres. E, neste sentido, a educação para a participação tem que ser chave. Viemos de uma educação bastante individualista e isso não nos ajuda para nada. Pense que um só homem não é nada frente o universo. Está bem defender o próprio, o modo particular de cada pessoa se expressar no mundo, mas não ficar apenas ali. Temos que saltar essa barreira autista e saber escutar e comunicar-se com o amplo, fascinante e ao mesmo tempo complicado mundo contemporâneo. E, para isto, o escritor é o guia mais autêntico para nos acompanhar nos caminhos intrincados da alma humana. Pense no Dante, que deve atravessar ou ir além, e entra no Inferno acompanhado de Virgilio, o escritor que mais admirava. E Virgilio é o anfitrião, mas ao mesmo tempo é quem revela os segredos daquelas profundidades. Essas almas torturadas que são o reflexo dos mais humanos, tudo isto o revela um escritor, não Deus, a quem Dante somente vê ao fim do caminho.
Máquina de Destruir Leitores
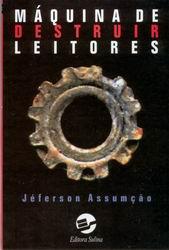
Máquina de Destruir Leitores (Sulina 2000) é uma novela-ensaio sobre a escola brasileira, maquininha de destruir a vontade de qualquer um, até hoje. Enfim, quase autobiográfico, trata de um tema de fundamental importância para a constituição de uma sociedade leitora. Ainda vigente. Um tanto difícil de encontrar.
Entrevista com o filósofo Renato Janine Ribeiro
Entrevista que fiz com Renato Janine Ribeiro, para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do MEC, em 2005. Janine Ribeiro é um dos mais atuantes intelectuais brasileiros, professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo (USP),na época diretor de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Jéferson Assumção - O senhor fala, em “Sobre o sentido público do ensino universitário”, do conceito de apropriação social do trabalho acadêmico. Por que ele é importante em uma discussão sobre universidade e compromisso social, como a realizada semana passada, no Inep?
Renato Janine Ribeiro - O que eu acho importante é discutir o compromisso social da universidade, muito mais em função do que ela realiza e para onde vai, do que em função, por exemplo, de quem é o dono da instituição - se é o Estado, a União, o município, ou se é uma instituição privada. É preciso pensar mais no resultado e menos na formalidade jurídica. Então, se nós temos uma apropriação do conhecimento que beneficia a sociedade, isso é uma coisa. Se nós temos um curso universitário gratuito, mas cujos resultados perpetuam ou acentuam a desigualdade social é outra coisa. Por exemplo, no caso do Direito, se você tem uma instituição pública formando alunos que vão basicamente auferir lucro através do Direito mais voltado para as empresas, isso não tem o mesmo efeito social do que se você tiver uma formação voltada para direitos humanos e para Direito constitucional ou Direito trabalhista ou direitos sociais. Todas essas formações são legítimas - não tenho nada contra os direitos dos contratos - mas é preciso, quando se discute o sentido público da universidade pública, deixar claro que público não é apenas estatal e gratuito, mas pública é sobretudo a apropriação do conhecimento assim gerado.
JA - O que pode ser feito para que, efetivamente, a universidade “fecunde” a sociedade?
RJR - Em primeiro lugar, seria importante as universidades definirem projetos que procurassem atender necessidades sociais inegáveis. Vou dar um exemplo, na questão da saúde. Nós sabemos o que mata mais e o que mata menos no Brasil. Nós podemos até ter dados sobre os custos de mortes. Podemos dizer: há certas mortes que poderiam ser evitadas a um preço mais barato do que outras... Muito provavelmente, salvar uma pessoa da morte por aids é mais caro do que salvar uma pessoa da morte por malária. Só que essa é uma doença mais popular, a outra é mais de classe média, e a gente sabe que existe um forte lobby junto à saúde pública em favor do dinheiro ir para doenças do perfil de classe média-alta. Então, essa é uma discussão importante que tem que ser feita. E como é que a universidade pode contribuir para isso? Pode contribuir discutindo e fazendo empreendimentos de saúde coletiva que indiquem saídas para o problema. Agora, algo é fundamental: não cabe à universidade, nem pública nem à privada, não cabe nem ao conceito de universidade, a partidarização. Uma universidade não deve fazer propostas carimbadas, de um lado ou de outro, de aplicação de recursos. Não cabe à universidade, por exemplo, defender políticas nitidamente do PT ou nitidamente do PSDB ou do PFL. Este não é o seu papel. A universidade pode definir as direções técnicas, pode esclarecer as diferentes opções políticas que há, mas não cabe a ela indicar só um caminho. Isso seria falso, seria errado. Agora, como ela pode fecundar a sociedade? Seria basicamente colocando a questão de quais são os interlocutores sociais dela. Com quem a universidade vai dialogar? Ela vai dialogar com empresas? Sim, deve dialogar com empresas, mas também deve dialogar com os movimentos sociais. Não há razão para nós acharmos legítimo que uma instituição universitária dê cursos de MBA para formar basicamente empresários executivos etc e considerarmos errado que ela dê um curso para filhos de sem-terra. A Unicamp deu um curso uns anos atrás para filhos de sem-terra, que eu achei positivo. Agora, a universidade será universidade se no MBA tiver professores de esquerda, além da dominância, que será certamente de defensores do capitalismo, de perfil mais conservador. E será universidade se um curso para os sem-terra tiver professores neoliberais. E esse é um ponto inegociável. É fundamental que você não partidarize a universidade.
JA - Como é que se faz essa fecundação da universidade para fecundar a sociedade?
RJR - Não é que esse tenha que ser o caminho. Como estávamos discutindo no Simpósio, a universidade tem que ter um compromisso social importante. Então eu levantei isso como um desafio no seio da universidade. O que nós, que estamos dentro da universidade, podemos fazer por ela? Não é cortar cana. O que nós podemos fazer é aquilo que está mais vinculado àquilo que nós conhecemos. Não adianta você pegar uma pessoa de formação sofisticada e dizer: você vai colaborar numa coisa que não é da sua capacidade. Então, como a universidade pode contribuir com a sociedade? Em primeiro lugar tem que pensar muito nos currículos, no tipo de profissional que queremos formar. Segundo: no tipo de sociedade. Por exemplo, a questão das cotas. Embora o termo cota seja muito mal-visto, o fato é que nós precisamos nos acostumar com uma sociedade mais variada. Precisamos ter mais negros como nossos alunos, mais mulheres nas profissões de ponta e por aí vai. Há outros pontos que exigem mais discussão. Acho muito complicada, por exemplo, a questão dos índios, porque são populações muito pequenas. Qualquer forma de inserção dos índios na sociedade traz a questão de, se você, ao inseri-los na nossa sociedade, não está de alguma forma aculturando a sociedade deles. É uma questão delicada e não pode ser tratada no Brasil do mesmo jeito do que se você tivesse uma população majoritariamente indígena. A questão indígena no Brasil é totalmente diferente da questão da Bolívia ou Peru, que tem maiorias indígenas. Aqui no Brasil o risco que a gente tem é o de fazer uma perda de cultura – mas é bom lembrar que esta é uma entrevista a título pessoal, não está falando o diretor da Capes, mas um professor universitário. Até porque essa visão dos indígenas talvez não seja a do Ministério, mas isso não me impede de, a título pessoal, expressar minhas idéias a esse respeito. Então, uma das formas (de se fecundar a sociedade) é ter algumas propostas prioritárias nacionais, que tenham a ver com grandes problemas ou grandes anseios do País. Um grande problema do País é saber quais são as grandes doenças que matam as pessoas e o que causa essas doenças. O que falta? Falta vacina? Não existe vacina para a doença de Chagas? Outra prioridade: nossa alimentação é ruim? Quando eu era jovem, arroz, feijão e carne eram um crime contra a saúde. Hoje existe a convicção de que é uma excelente combinação de alimentos. Então, se o brasileiro se alimenta mal não é por deficiência do prato nacional, mas por deficiência de acesso. Então, como você faz para enfrentar isso? São questões suprapartidárias num projeto de país. Você pode divergir em vários projetos, pode haver soluções mais de direita ou de esquerda, mas caberia à universidade viabilizar tudo o que é técnico-científico e por outro lado esclarecer as opções políticas alternativas.
JA - O senhor diz que, ao contrário do que a sociedade pensa, a formação dos alunos de graduação não é o mais importante papel da universidade? Qual seria, então?
RJR - Esse é um dos segredos da boa universidade. Para a população em geral, a universidade é só um lugar de formação de alunos de graduação. Mas, na verdade, para você ter uma boa universidade, é preciso ter ambiente de pesquisa. E um ambiente de pesquisa geralmente está ligado à pós-graduação. É muito difícil você ter um grupo de pesquisadores e não haver constantemente a seleção de novos alunos. O que é a pós-graduação, senão a idéia de que você vai constantemente agregando novos pesquisadores? O grupo de pesquisa não fica fechado, não envelhece, mas vai trazendo a juventude para o seu interior. Então, isso é uma coisa que é muito importante, no caso da universidade, porque é o que vai fazer com que os professores tenham um conhecimento mais apurado do que está acontecendo. Daí, a boa pesquisa e a boa pós-graduação repercutem positivamente na graduação. Agora, se tiver somente a graduação, sem a pesquisa de pós-graduação, você corre o risco de não ter essa boa formação dos alunos e, então, tem um problema grande. Mas a sociedade não tem noção disso. Para a maior parte da sociedade, o que a universidade faz é simplesmente a formação de profissionais...
JA - O senhor questiona a qualidade dos currículos, afirmando que é preciso despraticizá-lo, inclusive afirmando que, em muitos casos, o que parece ser um curso prático, na verdade é menos prático, no sentido em que, muitas vezes ele prepara para uma profissão que poderá mudar, em breve, ou, até mesmo ser extinta. Este não é um problema que um pouco sintoniza com o excessivo pragmatismo da sociedade como um todo? Quer dizer: não se está em um círculo em que, sem mudar a mentalidade utilitária e pragmática da sociedade, não se pode mudar o currículo e vice-versa?
RJR - Eu acho que é preciso que as pessoas tenham uma noção melhor do mundo atual. Muita gente não tem ainda a noção do que é esse mundo atual e fala da necessidade de se ter um ensino mais prático, pensando que aquele ensino mais prático é aquele que vai te trazer de pronto uma formação, um diploma que vai servir para ascensão profissional etc. Esse é um grande erro porque, na verdade, nós estamos numa mudança muito grande em termos de mercado de trabalho. Com essa mudança no mercado, você não sabe mais, não apenas se o emprego vai permanecer, mas se a profissão vai permanecer. As pessoas começaram a perceber que empregos acabam, mas não perceberam que as profissões também acabam. Você tem profissões que podem sumir de um momento para o outro... Com os ganhos de produtividade que a informática proporciona, você tem profissões ou funções que somem. No caso do jornalista, por exemplo, há dez, 20 anos atrás, talvez os jornais brasileiros fossem piores do que hoje, mas eles tinham redações próprias, em todo o lugar do País. Hoje você tem um jornal, no interior, que é melhor do que antes porque terá as melhores informações internacionais e nacionais, mas tudo comprado das agências internacionais e dos grandes jornais brasileiros. Isso reduziu muito o mercado de trabalho... Mas fora isso, você pode acabar não só com o emprego, mas com uma profissão. O caso mais óbvio é a do ascensorista, uma profissão que está fadada a desaparecer, como a de cobrador de ônibus. E há profissões mais acadêmicas, até com canudo universitário como requisito, que também somem ou podem sumir. Então, ou você forma uma pessoa capaz de, nessas situações, se reestruturar, ou você vai fazer um curso universitário longo para formar alguém que, depois, vai sentir que o seu mundo caiu, que foi logrado.
JA- Perda de tempo, de investimentos...
RJR - Perda de recursos e sobretudo um drama humano muito grande para muita gente.
JA - Nos anos 30, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset já alertava para o excessivo tecnicismo da formação superior. Em “Mision de la Universidad”, ele afirma que o papel desta instituição deveria ser precisamente ensinar o gosto por conhecer. Neste texto ele diz que foi necessário chegar o século XX para que se visse nascer um novo tipo de bárbaro, o especialista. Este é um bárbaro não porque conheça profundamente um determinado aspecto da realidade, um fenômeno ou um objeto, mas porque este tipo de conhecimento necessariamente o leva, por abstenção, a ignorar o resto do mundo. O senhor acha que um diagnóstico como este segue atual?
RJR - Acho que tem razão, porque a universidade continua com um problema sério que é o problema de que toda a formação, hoje, está voltada para a especialização. Alguns percebem que isso está errado, mas veja, é muito comum, na universidade, no final do primeiro ano, o aluno já escolher o assunto que quer fazer depois, e isso me preocupa muito porque, no fundo, a pesquisa dele não é o que importa. Você não deve esperar muito do resultado concreto, de conteúdo, da pesquisa de um aluno de graduação. O que você deve esperar é da formação dele. Nós não estamos fazendo uma pesquisa, nós estamos formando um ser humano, e à medida em que a gente forma um ser humano a gente tem condições de fazê-lo ser mais capaz. Então, não me interessa tanto o aluno que, aos 19, 20 anos, encontrou sua vocação. Eu acho preferível esse aluno perambular um pouco e depois encontrar uma vocação que pode ser a dele por um tempo, também. Não precisa ser a dele a vida toda. Esses jovens que estão entrando na universidade têm uma expectativa de vida de 80, talvez 100 anos. Então, nós estamos falando de duração de 60 anos. Com 60 anos pela frente, ele tem tempo de ter filho, de parar dez anos de trabalhar para cuidar dos filhos. Se a mulher quiser realmente se dedicar por tempo integral a isso, ou o homem, dá tempo de exercer uma profissão, de ser bom nela, de trocar de profissão, completamente, e tudo isso pode ser muito bom... Então, querer correr demais e ter um foco muito depressa seria um problema para a meia-idade. Essas pessoas que escolhem com muita ansiedade o seu rumo vão ter uma crise, aos 40, talvez pior do que se tivessem perambulado um pouco pelas suas próprias curiosidades.
JA - Como foi a experiência de criação do curso experimental de Humanidades, na USP? Quais eram suas principais características e como foi sua recepção no mundo acadêmico?
RJR - Foi uma experiência excelente, uma discussão muito boa. E também muito boa para perceber que isso não foi possível por ser muito difícil na universidade e talvez até mais na universidade pública do que na privada. O curso não foi criado e, ao fim de tudo, mesmo com a proposta construída, publicada em livro, as instâncias superiores da universidade não deram andamento. Então, foi uma boa lição de realidade. Existe no ambiente universitário brasileiro um fechamento à experiência que é muito grande, infelizmente!
JA - Esse projeto tem como ser retomado?
RJR - Tem. Inclusive ele fecundou vários projetos, sendo o mais explícito o das faculdades Jorge Amado, uma instituição privada de Salvador, na Bahia, que faz a mais explícita referência a este curso. O projeto está publicado, dá para retomá-lo...
JA - Por que é importante um curso de Humanidades?
RJR - O importante é você fazer a experiência de formar uma pessoa, em vez de treiná-la. Acho que a universidade deve formar e o mercado de trabalho treinar. Se um jornalista vai trabalhar na Veja, vai aprender o texto de um jeito; na Istoé de outro. Agora, não há nenhuma necessidade de a universidade dar este tipo de detalhamento, de rotina ao estudante. Isso, o empregador dá em 20 dias, um mês, dois meses. Agora, a formação é algo que exige uma distância disto tudo, que exige capacidade até de mudar. Por exemplo, se você tem como mudar de um estilo para outro e saber também o que está por trás de um estilo e de outro. Então, essa é a diferença da universidade para um ambiente de treinamento. E hoje uma parte da formação universitária infelizmente está confundida com treinamento. Então um curso de Humanidades seria um alerta para evitar este tipo de coisa.
JA - Os goliardos, também chamados precursores do Renascimento, eram misturas de clérigos e leigos que fecundaram a sociedade européia com uma visão menos instrumental, mais gratuita e desinteressada da formação intelectual. Vindos do campo para a cidade, muitos desses estudantes não se adaptaram à vida clerical das universidades e abandonaram os estudos para viver nas ruas, contando com o conhecimento adquirido intra-muros. Este tipo de personagem não existe no Brasil, onde praticamente só se lê didáticos, paradidáticos, técnicos e a chamada para-literatura de auto-ajuda, exotéricos etc. Um problema como este tem solução no que se refere à responsabilidade da universidade com ele? A universidade brasileira não é cada vez mais clériga, neste sentido, intra-muros, e fechada à criatividade e a invenção, vindas de fora?
RJR - Acho que é um movimento mundial. Há uma formação muito voltada para o utilitarismo imediato, há uma deturpação muito grande de valores. Por exemplo, em termos de formação você tem muito mais a idéia de que uma pessoa vai funcionar se ela fizer um trabalho que dê um resultado imediato do que se ela tiver um trabalho tortuoso... Nós precisamos nos preparar para uma cultura em que as mudanças e rupturas serão muito mais freqüentes do que no passado. Então, isso vai ser muito doloroso, num certo sentido, e muito emancipador em outro. Isso vale tanto para as relações amorosas quanto para os impactos profissionais. Se nós soubermos fazer isso nós temos como construir, por exemplo, uma coisa que me interessa estudar hoje, que é uma ética da separação. Nós não temos uma ética da separação, nem para a separação profissional nem para a separação amorosa... É preciso construir este tipo de coisa. Então, quando você fala nos goliardos, o que você tem? Você tem uma pessoa que fez uma formação acadêmica, mas que teve um resultado não-óbvio, não-trivial. Por exemplo, eu posso fazer um curso de Direito e jamais vir a ser um advogado e no entanto posso ter algum resultado disso. Chico Buarque de Hollanda fez Arquitetura. Quem disse que o curso de Arquitetura foi inútil para ele? Por outro lado, se se tem uma formação menos tecnicista, nos anos de ouro, aos 20 anos de idade, pode-se ter uma formação muito mais abrangente. Depois, se ele decide ser arquiteto, aos 25 anos, ele faz a parte técnica. Poderia ser melhor. Se a gente tivesse um esquema de universidade em que você estudasse aquilo que vai ficar, mesmo que você não faça aquela função – que depois, no final do curso, nos dois anos posteriores você faria, como treinamento, propriamente dito - a gente ganharia. Hoje há um desperdício muito grande, apontado, muitas vezes, para uma direção errada. As pessoas pensam que o desperdício se resolve ao se eliminar a evasão, mas a evasão é o efeito. A evasão é, às vezes, até um sinal de vida. É sinal de que as pessoas estão procurando outra coisa, que aquilo não dá, não porque tecnicamente não está estruturada. É porque, hoje, você não pode pedir a uma pessoa com 18, 20, 22 anos, ou mesmo mais, que ela compre um voto, como um voto clerical de dedicação eterna à sua direção profissional. Isso não pode.
JA - A Unesco diz que para que existam leitores em um país são necessários três fatores. 1. O livro deve estar em lugar de destaque no imaginário nacional. 2. Devem existir famílias de leitores e 3. Devem existir escolas que saibam formar leitores. Não parece que, desses três fatores, aquele que pode ser transformado mais imediatamente é o da relação da escola com a leitura? Como o senhor lembra em “Apresentação ao curso de Humanidades na USP”, o brasileiro não lê Dostoievski, Gogol e outros porque a literatura é vista de maneira instrumental para que se aprenda uma língua e os grandes autores russos só nos chegariam no caso de existir o ensino de russo nas escolas... A solução para este problema parece passar por uma formação mais ampla do professor?
RJR - Não tenho certeza se o fato de Dostoievski não ser lido está ligado a uma visão utilitária... Porque às vezes é a questão da mania acadêmica dos pré-requisitos, que você tem que aprender a língua antes de aprender a literatura. Então, a idéia de uma leitura descompromissada, por prazer, não vai muito no horizonte de uma boa parte da academia. A maior parte da academia tem um certo horror ao prazer. Você vai ter prazer lendo? Você vai fazer um currículo para ter prazer? Você nota que o mais provável é que as pessoas falem em leituras obrigatórias do que leituras prazerosas. E é mais provável que uma pessoa vá fazer um curso de Direito, que pode ser um curso difícil e do qual, no estado de São Paulo 92% serão reprovados no exame de ordem, do que um curso de Cultura Geral, que poderia trazer muito mais à vida dela. Agora, quanto à questão dos três fatores, que eu acho muito boa, algumas escolas promovem a leitura, sim, mas ela não tem destaque no imaginário nacional. Nem as tradições de leitura vão além de algumas famílias. Na verdade, nós temos um imaginário que constantemente retorna à idéia de que ler é uma coisa chata. No meu livro O Afeto Autoritário, que eu lancei este ano, sobre televisão, eu comento um programa da Sandy e Júnior. Nele, havia uma discussão sobre se os esforços da escola deveriam ser feitos para se ter uma biblioteca ou para uma festa, não lembro bem. Bom, mas você passa a ter uma idéia de que leitura é uma coisa chata. E a mídia passa muito essa idéia. Eu acho que a maneira de lutar contra isso não é defendendo a tradição da leitura, mas é deixando claro que você só consegue ser interativo com a mídia, ou seja, separar o joio do trigo e escolher o que realmente é bom para você, se você mesmo for multimeios. E um dos meios que você tem que ter para ser multimeios é o meio da leitura. Ou você domina a leitura ou a chance de ser passivo é muito grande. Das formas do trato com o conhecimento não-científico - o conhecimento cultural - a leitura é uma das mais ativas, então nesse sentido nós precisamos de políticas de incentivo, de barateamento e disponibilização do livro, mas nós precisamos, antes de mais nada, de lutar por um lugar do livro no imaginário e isto exigiria muita conversa com o pessoal da mídia. Você pode ter canais de tevê que fazem um trabalho muito meritório, acessoriamente, de promoção da cultura, como é o caso da Fundação Roberto Marinho, o canal Futura, da Globo, mas no eixo principal esta questão não está presente. Aí está um problema. Não adianta culpar a Globo por isso. É um círculo vicioso. A Globo sabe que, se ela começar a apostar numa visão de leitura, ela perde público.
Jéferson Assumção - O senhor fala, em “Sobre o sentido público do ensino universitário”, do conceito de apropriação social do trabalho acadêmico. Por que ele é importante em uma discussão sobre universidade e compromisso social, como a realizada semana passada, no Inep?
Renato Janine Ribeiro - O que eu acho importante é discutir o compromisso social da universidade, muito mais em função do que ela realiza e para onde vai, do que em função, por exemplo, de quem é o dono da instituição - se é o Estado, a União, o município, ou se é uma instituição privada. É preciso pensar mais no resultado e menos na formalidade jurídica. Então, se nós temos uma apropriação do conhecimento que beneficia a sociedade, isso é uma coisa. Se nós temos um curso universitário gratuito, mas cujos resultados perpetuam ou acentuam a desigualdade social é outra coisa. Por exemplo, no caso do Direito, se você tem uma instituição pública formando alunos que vão basicamente auferir lucro através do Direito mais voltado para as empresas, isso não tem o mesmo efeito social do que se você tiver uma formação voltada para direitos humanos e para Direito constitucional ou Direito trabalhista ou direitos sociais. Todas essas formações são legítimas - não tenho nada contra os direitos dos contratos - mas é preciso, quando se discute o sentido público da universidade pública, deixar claro que público não é apenas estatal e gratuito, mas pública é sobretudo a apropriação do conhecimento assim gerado.
JA - O que pode ser feito para que, efetivamente, a universidade “fecunde” a sociedade?
RJR - Em primeiro lugar, seria importante as universidades definirem projetos que procurassem atender necessidades sociais inegáveis. Vou dar um exemplo, na questão da saúde. Nós sabemos o que mata mais e o que mata menos no Brasil. Nós podemos até ter dados sobre os custos de mortes. Podemos dizer: há certas mortes que poderiam ser evitadas a um preço mais barato do que outras... Muito provavelmente, salvar uma pessoa da morte por aids é mais caro do que salvar uma pessoa da morte por malária. Só que essa é uma doença mais popular, a outra é mais de classe média, e a gente sabe que existe um forte lobby junto à saúde pública em favor do dinheiro ir para doenças do perfil de classe média-alta. Então, essa é uma discussão importante que tem que ser feita. E como é que a universidade pode contribuir para isso? Pode contribuir discutindo e fazendo empreendimentos de saúde coletiva que indiquem saídas para o problema. Agora, algo é fundamental: não cabe à universidade, nem pública nem à privada, não cabe nem ao conceito de universidade, a partidarização. Uma universidade não deve fazer propostas carimbadas, de um lado ou de outro, de aplicação de recursos. Não cabe à universidade, por exemplo, defender políticas nitidamente do PT ou nitidamente do PSDB ou do PFL. Este não é o seu papel. A universidade pode definir as direções técnicas, pode esclarecer as diferentes opções políticas que há, mas não cabe a ela indicar só um caminho. Isso seria falso, seria errado. Agora, como ela pode fecundar a sociedade? Seria basicamente colocando a questão de quais são os interlocutores sociais dela. Com quem a universidade vai dialogar? Ela vai dialogar com empresas? Sim, deve dialogar com empresas, mas também deve dialogar com os movimentos sociais. Não há razão para nós acharmos legítimo que uma instituição universitária dê cursos de MBA para formar basicamente empresários executivos etc e considerarmos errado que ela dê um curso para filhos de sem-terra. A Unicamp deu um curso uns anos atrás para filhos de sem-terra, que eu achei positivo. Agora, a universidade será universidade se no MBA tiver professores de esquerda, além da dominância, que será certamente de defensores do capitalismo, de perfil mais conservador. E será universidade se um curso para os sem-terra tiver professores neoliberais. E esse é um ponto inegociável. É fundamental que você não partidarize a universidade.
JA - Como é que se faz essa fecundação da universidade para fecundar a sociedade?
RJR - Não é que esse tenha que ser o caminho. Como estávamos discutindo no Simpósio, a universidade tem que ter um compromisso social importante. Então eu levantei isso como um desafio no seio da universidade. O que nós, que estamos dentro da universidade, podemos fazer por ela? Não é cortar cana. O que nós podemos fazer é aquilo que está mais vinculado àquilo que nós conhecemos. Não adianta você pegar uma pessoa de formação sofisticada e dizer: você vai colaborar numa coisa que não é da sua capacidade. Então, como a universidade pode contribuir com a sociedade? Em primeiro lugar tem que pensar muito nos currículos, no tipo de profissional que queremos formar. Segundo: no tipo de sociedade. Por exemplo, a questão das cotas. Embora o termo cota seja muito mal-visto, o fato é que nós precisamos nos acostumar com uma sociedade mais variada. Precisamos ter mais negros como nossos alunos, mais mulheres nas profissões de ponta e por aí vai. Há outros pontos que exigem mais discussão. Acho muito complicada, por exemplo, a questão dos índios, porque são populações muito pequenas. Qualquer forma de inserção dos índios na sociedade traz a questão de, se você, ao inseri-los na nossa sociedade, não está de alguma forma aculturando a sociedade deles. É uma questão delicada e não pode ser tratada no Brasil do mesmo jeito do que se você tivesse uma população majoritariamente indígena. A questão indígena no Brasil é totalmente diferente da questão da Bolívia ou Peru, que tem maiorias indígenas. Aqui no Brasil o risco que a gente tem é o de fazer uma perda de cultura – mas é bom lembrar que esta é uma entrevista a título pessoal, não está falando o diretor da Capes, mas um professor universitário. Até porque essa visão dos indígenas talvez não seja a do Ministério, mas isso não me impede de, a título pessoal, expressar minhas idéias a esse respeito. Então, uma das formas (de se fecundar a sociedade) é ter algumas propostas prioritárias nacionais, que tenham a ver com grandes problemas ou grandes anseios do País. Um grande problema do País é saber quais são as grandes doenças que matam as pessoas e o que causa essas doenças. O que falta? Falta vacina? Não existe vacina para a doença de Chagas? Outra prioridade: nossa alimentação é ruim? Quando eu era jovem, arroz, feijão e carne eram um crime contra a saúde. Hoje existe a convicção de que é uma excelente combinação de alimentos. Então, se o brasileiro se alimenta mal não é por deficiência do prato nacional, mas por deficiência de acesso. Então, como você faz para enfrentar isso? São questões suprapartidárias num projeto de país. Você pode divergir em vários projetos, pode haver soluções mais de direita ou de esquerda, mas caberia à universidade viabilizar tudo o que é técnico-científico e por outro lado esclarecer as opções políticas alternativas.
JA - O senhor diz que, ao contrário do que a sociedade pensa, a formação dos alunos de graduação não é o mais importante papel da universidade? Qual seria, então?
RJR - Esse é um dos segredos da boa universidade. Para a população em geral, a universidade é só um lugar de formação de alunos de graduação. Mas, na verdade, para você ter uma boa universidade, é preciso ter ambiente de pesquisa. E um ambiente de pesquisa geralmente está ligado à pós-graduação. É muito difícil você ter um grupo de pesquisadores e não haver constantemente a seleção de novos alunos. O que é a pós-graduação, senão a idéia de que você vai constantemente agregando novos pesquisadores? O grupo de pesquisa não fica fechado, não envelhece, mas vai trazendo a juventude para o seu interior. Então, isso é uma coisa que é muito importante, no caso da universidade, porque é o que vai fazer com que os professores tenham um conhecimento mais apurado do que está acontecendo. Daí, a boa pesquisa e a boa pós-graduação repercutem positivamente na graduação. Agora, se tiver somente a graduação, sem a pesquisa de pós-graduação, você corre o risco de não ter essa boa formação dos alunos e, então, tem um problema grande. Mas a sociedade não tem noção disso. Para a maior parte da sociedade, o que a universidade faz é simplesmente a formação de profissionais...
JA - O senhor questiona a qualidade dos currículos, afirmando que é preciso despraticizá-lo, inclusive afirmando que, em muitos casos, o que parece ser um curso prático, na verdade é menos prático, no sentido em que, muitas vezes ele prepara para uma profissão que poderá mudar, em breve, ou, até mesmo ser extinta. Este não é um problema que um pouco sintoniza com o excessivo pragmatismo da sociedade como um todo? Quer dizer: não se está em um círculo em que, sem mudar a mentalidade utilitária e pragmática da sociedade, não se pode mudar o currículo e vice-versa?
RJR - Eu acho que é preciso que as pessoas tenham uma noção melhor do mundo atual. Muita gente não tem ainda a noção do que é esse mundo atual e fala da necessidade de se ter um ensino mais prático, pensando que aquele ensino mais prático é aquele que vai te trazer de pronto uma formação, um diploma que vai servir para ascensão profissional etc. Esse é um grande erro porque, na verdade, nós estamos numa mudança muito grande em termos de mercado de trabalho. Com essa mudança no mercado, você não sabe mais, não apenas se o emprego vai permanecer, mas se a profissão vai permanecer. As pessoas começaram a perceber que empregos acabam, mas não perceberam que as profissões também acabam. Você tem profissões que podem sumir de um momento para o outro... Com os ganhos de produtividade que a informática proporciona, você tem profissões ou funções que somem. No caso do jornalista, por exemplo, há dez, 20 anos atrás, talvez os jornais brasileiros fossem piores do que hoje, mas eles tinham redações próprias, em todo o lugar do País. Hoje você tem um jornal, no interior, que é melhor do que antes porque terá as melhores informações internacionais e nacionais, mas tudo comprado das agências internacionais e dos grandes jornais brasileiros. Isso reduziu muito o mercado de trabalho... Mas fora isso, você pode acabar não só com o emprego, mas com uma profissão. O caso mais óbvio é a do ascensorista, uma profissão que está fadada a desaparecer, como a de cobrador de ônibus. E há profissões mais acadêmicas, até com canudo universitário como requisito, que também somem ou podem sumir. Então, ou você forma uma pessoa capaz de, nessas situações, se reestruturar, ou você vai fazer um curso universitário longo para formar alguém que, depois, vai sentir que o seu mundo caiu, que foi logrado.
JA- Perda de tempo, de investimentos...
RJR - Perda de recursos e sobretudo um drama humano muito grande para muita gente.
JA - Nos anos 30, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset já alertava para o excessivo tecnicismo da formação superior. Em “Mision de la Universidad”, ele afirma que o papel desta instituição deveria ser precisamente ensinar o gosto por conhecer. Neste texto ele diz que foi necessário chegar o século XX para que se visse nascer um novo tipo de bárbaro, o especialista. Este é um bárbaro não porque conheça profundamente um determinado aspecto da realidade, um fenômeno ou um objeto, mas porque este tipo de conhecimento necessariamente o leva, por abstenção, a ignorar o resto do mundo. O senhor acha que um diagnóstico como este segue atual?
RJR - Acho que tem razão, porque a universidade continua com um problema sério que é o problema de que toda a formação, hoje, está voltada para a especialização. Alguns percebem que isso está errado, mas veja, é muito comum, na universidade, no final do primeiro ano, o aluno já escolher o assunto que quer fazer depois, e isso me preocupa muito porque, no fundo, a pesquisa dele não é o que importa. Você não deve esperar muito do resultado concreto, de conteúdo, da pesquisa de um aluno de graduação. O que você deve esperar é da formação dele. Nós não estamos fazendo uma pesquisa, nós estamos formando um ser humano, e à medida em que a gente forma um ser humano a gente tem condições de fazê-lo ser mais capaz. Então, não me interessa tanto o aluno que, aos 19, 20 anos, encontrou sua vocação. Eu acho preferível esse aluno perambular um pouco e depois encontrar uma vocação que pode ser a dele por um tempo, também. Não precisa ser a dele a vida toda. Esses jovens que estão entrando na universidade têm uma expectativa de vida de 80, talvez 100 anos. Então, nós estamos falando de duração de 60 anos. Com 60 anos pela frente, ele tem tempo de ter filho, de parar dez anos de trabalhar para cuidar dos filhos. Se a mulher quiser realmente se dedicar por tempo integral a isso, ou o homem, dá tempo de exercer uma profissão, de ser bom nela, de trocar de profissão, completamente, e tudo isso pode ser muito bom... Então, querer correr demais e ter um foco muito depressa seria um problema para a meia-idade. Essas pessoas que escolhem com muita ansiedade o seu rumo vão ter uma crise, aos 40, talvez pior do que se tivessem perambulado um pouco pelas suas próprias curiosidades.
JA - Como foi a experiência de criação do curso experimental de Humanidades, na USP? Quais eram suas principais características e como foi sua recepção no mundo acadêmico?
RJR - Foi uma experiência excelente, uma discussão muito boa. E também muito boa para perceber que isso não foi possível por ser muito difícil na universidade e talvez até mais na universidade pública do que na privada. O curso não foi criado e, ao fim de tudo, mesmo com a proposta construída, publicada em livro, as instâncias superiores da universidade não deram andamento. Então, foi uma boa lição de realidade. Existe no ambiente universitário brasileiro um fechamento à experiência que é muito grande, infelizmente!
JA - Esse projeto tem como ser retomado?
RJR - Tem. Inclusive ele fecundou vários projetos, sendo o mais explícito o das faculdades Jorge Amado, uma instituição privada de Salvador, na Bahia, que faz a mais explícita referência a este curso. O projeto está publicado, dá para retomá-lo...
JA - Por que é importante um curso de Humanidades?
RJR - O importante é você fazer a experiência de formar uma pessoa, em vez de treiná-la. Acho que a universidade deve formar e o mercado de trabalho treinar. Se um jornalista vai trabalhar na Veja, vai aprender o texto de um jeito; na Istoé de outro. Agora, não há nenhuma necessidade de a universidade dar este tipo de detalhamento, de rotina ao estudante. Isso, o empregador dá em 20 dias, um mês, dois meses. Agora, a formação é algo que exige uma distância disto tudo, que exige capacidade até de mudar. Por exemplo, se você tem como mudar de um estilo para outro e saber também o que está por trás de um estilo e de outro. Então, essa é a diferença da universidade para um ambiente de treinamento. E hoje uma parte da formação universitária infelizmente está confundida com treinamento. Então um curso de Humanidades seria um alerta para evitar este tipo de coisa.
JA - Os goliardos, também chamados precursores do Renascimento, eram misturas de clérigos e leigos que fecundaram a sociedade européia com uma visão menos instrumental, mais gratuita e desinteressada da formação intelectual. Vindos do campo para a cidade, muitos desses estudantes não se adaptaram à vida clerical das universidades e abandonaram os estudos para viver nas ruas, contando com o conhecimento adquirido intra-muros. Este tipo de personagem não existe no Brasil, onde praticamente só se lê didáticos, paradidáticos, técnicos e a chamada para-literatura de auto-ajuda, exotéricos etc. Um problema como este tem solução no que se refere à responsabilidade da universidade com ele? A universidade brasileira não é cada vez mais clériga, neste sentido, intra-muros, e fechada à criatividade e a invenção, vindas de fora?
RJR - Acho que é um movimento mundial. Há uma formação muito voltada para o utilitarismo imediato, há uma deturpação muito grande de valores. Por exemplo, em termos de formação você tem muito mais a idéia de que uma pessoa vai funcionar se ela fizer um trabalho que dê um resultado imediato do que se ela tiver um trabalho tortuoso... Nós precisamos nos preparar para uma cultura em que as mudanças e rupturas serão muito mais freqüentes do que no passado. Então, isso vai ser muito doloroso, num certo sentido, e muito emancipador em outro. Isso vale tanto para as relações amorosas quanto para os impactos profissionais. Se nós soubermos fazer isso nós temos como construir, por exemplo, uma coisa que me interessa estudar hoje, que é uma ética da separação. Nós não temos uma ética da separação, nem para a separação profissional nem para a separação amorosa... É preciso construir este tipo de coisa. Então, quando você fala nos goliardos, o que você tem? Você tem uma pessoa que fez uma formação acadêmica, mas que teve um resultado não-óbvio, não-trivial. Por exemplo, eu posso fazer um curso de Direito e jamais vir a ser um advogado e no entanto posso ter algum resultado disso. Chico Buarque de Hollanda fez Arquitetura. Quem disse que o curso de Arquitetura foi inútil para ele? Por outro lado, se se tem uma formação menos tecnicista, nos anos de ouro, aos 20 anos de idade, pode-se ter uma formação muito mais abrangente. Depois, se ele decide ser arquiteto, aos 25 anos, ele faz a parte técnica. Poderia ser melhor. Se a gente tivesse um esquema de universidade em que você estudasse aquilo que vai ficar, mesmo que você não faça aquela função – que depois, no final do curso, nos dois anos posteriores você faria, como treinamento, propriamente dito - a gente ganharia. Hoje há um desperdício muito grande, apontado, muitas vezes, para uma direção errada. As pessoas pensam que o desperdício se resolve ao se eliminar a evasão, mas a evasão é o efeito. A evasão é, às vezes, até um sinal de vida. É sinal de que as pessoas estão procurando outra coisa, que aquilo não dá, não porque tecnicamente não está estruturada. É porque, hoje, você não pode pedir a uma pessoa com 18, 20, 22 anos, ou mesmo mais, que ela compre um voto, como um voto clerical de dedicação eterna à sua direção profissional. Isso não pode.
JA - A Unesco diz que para que existam leitores em um país são necessários três fatores. 1. O livro deve estar em lugar de destaque no imaginário nacional. 2. Devem existir famílias de leitores e 3. Devem existir escolas que saibam formar leitores. Não parece que, desses três fatores, aquele que pode ser transformado mais imediatamente é o da relação da escola com a leitura? Como o senhor lembra em “Apresentação ao curso de Humanidades na USP”, o brasileiro não lê Dostoievski, Gogol e outros porque a literatura é vista de maneira instrumental para que se aprenda uma língua e os grandes autores russos só nos chegariam no caso de existir o ensino de russo nas escolas... A solução para este problema parece passar por uma formação mais ampla do professor?
RJR - Não tenho certeza se o fato de Dostoievski não ser lido está ligado a uma visão utilitária... Porque às vezes é a questão da mania acadêmica dos pré-requisitos, que você tem que aprender a língua antes de aprender a literatura. Então, a idéia de uma leitura descompromissada, por prazer, não vai muito no horizonte de uma boa parte da academia. A maior parte da academia tem um certo horror ao prazer. Você vai ter prazer lendo? Você vai fazer um currículo para ter prazer? Você nota que o mais provável é que as pessoas falem em leituras obrigatórias do que leituras prazerosas. E é mais provável que uma pessoa vá fazer um curso de Direito, que pode ser um curso difícil e do qual, no estado de São Paulo 92% serão reprovados no exame de ordem, do que um curso de Cultura Geral, que poderia trazer muito mais à vida dela. Agora, quanto à questão dos três fatores, que eu acho muito boa, algumas escolas promovem a leitura, sim, mas ela não tem destaque no imaginário nacional. Nem as tradições de leitura vão além de algumas famílias. Na verdade, nós temos um imaginário que constantemente retorna à idéia de que ler é uma coisa chata. No meu livro O Afeto Autoritário, que eu lancei este ano, sobre televisão, eu comento um programa da Sandy e Júnior. Nele, havia uma discussão sobre se os esforços da escola deveriam ser feitos para se ter uma biblioteca ou para uma festa, não lembro bem. Bom, mas você passa a ter uma idéia de que leitura é uma coisa chata. E a mídia passa muito essa idéia. Eu acho que a maneira de lutar contra isso não é defendendo a tradição da leitura, mas é deixando claro que você só consegue ser interativo com a mídia, ou seja, separar o joio do trigo e escolher o que realmente é bom para você, se você mesmo for multimeios. E um dos meios que você tem que ter para ser multimeios é o meio da leitura. Ou você domina a leitura ou a chance de ser passivo é muito grande. Das formas do trato com o conhecimento não-científico - o conhecimento cultural - a leitura é uma das mais ativas, então nesse sentido nós precisamos de políticas de incentivo, de barateamento e disponibilização do livro, mas nós precisamos, antes de mais nada, de lutar por um lugar do livro no imaginário e isto exigiria muita conversa com o pessoal da mídia. Você pode ter canais de tevê que fazem um trabalho muito meritório, acessoriamente, de promoção da cultura, como é o caso da Fundação Roberto Marinho, o canal Futura, da Globo, mas no eixo principal esta questão não está presente. Aí está um problema. Não adianta culpar a Globo por isso. É um círculo vicioso. A Globo sabe que, se ela começar a apostar numa visão de leitura, ela perde público.
Assinar:
Postagens (Atom)
